Monografias
|
Os
mitos de gênero no telejornalismo brasileiro:
Estudo de caso do Jornal Hoje
Por
Ana Sílvia Laurindo da Cruz*
|
|
Resumo
No
telejornal, uma reportagem aparentemente inocente pode carregar
vários mitos de gênero, relacionados ao papel que
homens e mulheres devem desempenhar na sociedade. Considera-se,
aqui, gênero como categoria socialmente construída,
e não determinada biologicamente.
Este
trabalho aborda opressão exercida através do telejornal,
que é simbólica, silenciosa e aparentemente insensível.
O programa escolhido para amostragem é o Jornal Hoje,
da Rede Globo, que é analisado a partir da estrutura
significante. O objetivo é mostrar os mecanismos de linguagem
que permitem a construção de um ideal de mulher
e de relação que ela deve manter com o homem,
buscando explicitar os principais signos que manifestam a visão
androcêntrica, com a contribuição da Mitologia
proposta por Roland Barthes e dos estudos que resgatam a história
das mulheres e da construção do ideal moderno
de feminilidade.
1.
Introdução
Em
2004, o Jornal Hoje, da Rede Globo, veiculou uma matéria
sobre o aumento da participação das mulheres na
construção civil. Junto a esta constatação,
a mensagem trouxe uma série de adjetivos que, associados
às mulheres, estabelecem uma certa identidade feminina.
Fragilidade, delicadeza, sensibilidade são algumas das
características que aparecem como inatas à mulher.
As
"pedreiras" viraram notícia porque possuem
algo de espetacular: são mulheres ocupando um espaço
tradicionalmente masculino. O estranhamento causado por esse
acontecimento tem uma justificativa histórica, e isso
é abordado a seguir. Pretende-se compreender como uma
simples matéria de telejornal reproduz determinadas idéias
acerca do papel que homens e mulheres devem desempenhar na sociedade
brasileira.
Para
tanto, são analisadas reportagens do Jornal Hoje, da
Rede Globo de Televisão. O foco deste trabalho é
a mensagem produzida pelo telejornal enquanto estrutura significante,
e o tratamento dado às relações de gênero.
Ao
falar de gênero, ou gêneros, faz-se referência
à construção social normatizadora das categorias
"homem" e "mulher", e não a uma determinação
biológica. Considerando a produção televisiva
como potencial instrumento de manutenção da ordem
simbólica, demonstra-se como o jornalismo contribui para
a naturalização de conceitos e preconceitos. Mesmo
que, no processo de produção da reportagem, a
construção de um discurso preconceituoso não
seja deliberada, essa mensagem existe, é consumida e
interpretada.
O
objetivo é levantar questões para a reflexão
sobre os objetos analisados. Ao demonstrar o que os signos de
uma matéria carregam dentro do contexto da construção
histórica do papel de homens e mulheres, retira-se a
produção jornalística do espectro cotidiano
e banal, para ressaltar o potencial que possui para manter ou
revolucionar a ordem das coisas.
Questiona-se
a dominação masculina, porque a divisão
entre os sexos e a imposição da visão machista
parece não só "normal", como inevitável.
Para BOURDIEU (1997, p. 18): "A força da ordem masculina
se evidencia no fato de que ela dispensa justificação:
a visão androcêntrica impõe-se como neutra
e não tem necessidade de se enunciar em discursos que
visem a legitimá-la".
2.
Descrição da Pesquisa
Este
trabalho traz uma abordagem da construção social
e, portanto, histórica dos gêneros masculino e
feminino, atentando para a divisão sexual do trabalho
e a constituição do ideal moderno de feminilidade.
Para isso, recorre-se principalmente ao sociólogo francês
Pierre BOURDIEU (2003), à psicanalista Maria Rita KEHL
(1998) e aos estudos organizados por Mary DEL PRIORE (1997)
sobre a história das mulheres no Brasil. As relações
entre homens e mulheres são estudadas enquanto relações
de poder, neste caso, desiguais.
O
segundo passo é a análise do papel desempenhado
pela televisão na sociedade contemporânea e, dentro
desse contexto, o telejornalismo no Brasil. O telejornal e suas
mensagens são vistas a partir da produção
inserida no que Guy DEBORD (1997) chamou de "Sociedade
do Espetáculo", da notícia como mercadoria,
do discurso da objetividade como fio condutor e da estrutura
significante como produtora de mitos.
Então,
parte-se para a análise de diversos aspectos da mensagem
do telejornal no que diz respeito à constituição
de mitos sobre o que é "ser mulher" e "ser
homem" além de vislumbrar como determinado padrão
de feminilidade é reproduzido pelos meios de comunicação
atualmente.
Ao analisar o discurso jornalístico, demonstra-se como
o signo e a linguagem refletem e refratam as condições
de produção social, trazendo em sua materialização,
nos enunciados, as marcas das formações sociais,
ideológicas e discursivas de uma época e as relações
de desejo, poder, classe e ideologia que são instauradas
através da linguagem.
3.
Metodologia
O
Jornal Hoje (JH) foi escolhido como objeto de análise
pelas características editoriais que permitem a identificação
da polêmica das relações de gênero
com mais clareza, por ser dirigido, especialmente, ao "público
feminino" e possuir índices de audiência maiores
entre as mulheres.
As
edições do JH estudadas foram exibidas entre os
dias 19 e 25 de outubro de 2004. A seleção do
período foi feita aleatoriamente. Ao trabalhar com o
telejornal, entra-se em um setor do vasto campo simbólico
ao qual todos estão submetidos desde o primeiro contato
com o mundo. Assim, qualquer período escolhido teria
relevância para o estudo.
O
primeiro passo para a análise é a "desconstrução"
das edições do JH, a partir da transcrição
total da fala dos apresentadores nas escaladas [1] de todos
os dias e a organização dessas informações
em quadros. Cada edição também terá
uma tabela relacionando a quantidade de sonoras [2] realizadas
com homens e mulheres e a identificação de cada
pessoa.
Em
cada uma das edições, uma matéria é
selecionada para ser estudada. As matérias também
são transcritas e "desmontadas" em um quadro,
a partir da estrutura horizontal [3] do VT. [4] Em resumo, cada
edição do JH tem dois quadros descritivos (da
escalada e da matéria selecionada) e uma tabela com informações
adicionais.
Parte-se,
então, à análise de signos presentes na
matéria selecionada, compreendendo e relacionando imagens
e texto. Concluídas as análises, confronta-se
os dados obtidos e a hipótese levantada sobre o papel
do discurso jornalístico na TV como instrumento de opressão
simbólica e de legitimação da dominação
masculina, através da reprodução relacional
dos mitos que envolvem as representações da mulher
e do homem.
3.1
Mitologia
A
opressão das mulheres faz parte de um processo de naturalização
da dominação masculina que é construída
historicamente. A legitimação do arbitrário
histórico é detectável na forma como nos
comunicamos, em nosso relato sobre o mundo, em nossos discursos
que mascaram a realidade através da linguagem. Roland
BARTHES (2003) vai trabalhar com o conceito de mito para tratar
desse processo.
Analiticamente,
o mito não é estudado como a língua, a
ciência que será utilizada para tanto é
a Semiologia, Ciência Geral dos Signos, postulada pelo
lingüista suíço Ferdinand SAUSSURE e publicada
pela primeira vez em 1916. BARTHES (2003) aponta que, enquanto
estudo de uma fala, a mitologia representa uma parte da ciência
dos signos.
Recorrendo
à Semiologia, é preciso estabelecer a relação
não de igualdade, mas de equivalência entre um
significante e um significado. Deve-se também considerar
um terceiro termo, o signo, que representa o conjunto dos dois
anteriores. BARTHES (2003) lembra que o significante é
vazio e o signo é pleno, é um sentido. Assim,
carregando um significante de um significado definitivo, constitui-se
um signo. Este esquema formal pode receber conteúdos
diferenciados. Neste caso, optamos pelo esquema proposto por
SAUSSURE (1971), mas ampliando sua aplicação.
O
mito é uma fala, um sistema de comunicação,
uma mensagem. Não é um objeto, um conceito ou
uma idéia: ele é um modo de significação,
uma forma. Se a fala mítica é uma mensagem, não
precisa necessariamente ser oral, pode ser formada por um discurso
escrito, visual ou por ambos. Exemplos disso são: a fotografia,
o cinema, as reportagens, a publicidade, o esporte, os espetáculos.
No
mito, temos o mesmo esquema tridimensional já apresentado,
composto por significante, significado e signo. Mas, o mito
constitui um sistema específico, pois é formado
a partir de uma cadeia semiológica anterior, sendo chamado,
por BARTHES (2003) de um sistema semiológico segundo.
O signo de um sistema transforma-se no significante do sistema
segundo (do mito).
Por
mais complexo que seja o signo global da primeira cadeia semiológica
(como uma fotografia, por exemplo), ao se transformar em matéria-prima
do mito, fica reduzido a um simples significante.
No
mito, o significante é ao mesmo tempo termo final do
sistema lingüístico (sentido) e termo inicial do
sistema mítico (forma). O significado é chamado
por BARTHES (2003) de conceito. Na língua, o terceiro
termo que correlaciona os dois primeiros é o signo; como
o significante do mito já é constituído
de signos, seu terceiro termo é chamado de significação.
Apesar
do empobrecimento, o sentido não desaparece, fica à
disposição da forma mítica, como uma "reserva
de história". Os mitos são provisórios,
alguns objetos permanecem na linguagem mítica durante
certo tempo, em seguida desaparecem e outros mitos são
constituídos. A fala mítica é escolhida
pela História, assim, não pode surgir da natureza
das coisas.
A
leitura e decifração do mito, segundo BARTHES
(2003) pode ser feita a partir de três pontos de vista.
Primeiramente, é preciso resgatar a duplicidade deste:
é simultaneamente sentido e forma. Se focalizar o significante
vazio (forma), temos um sistema simples, onde o conceito preenche
a forma do mito, sem ambigüidade, e a significação
volta a ser literal; para o autor, esta á a abordagem
do produtor de mitos, por exemplo, o jornalista, que procura
uma forma para o conceito.
Atentando
para o significante do mito, como totalidade emaranhada de sentido
e forma, obtém-se uma significação ambígua,
é a posição do leitor que reage segundo
a dinâmica do mito. Porém, se o foco for um significante
pleno, é possível destruir a significação
do mito, desmistificar, distinguindo sentido e forma e a deformação
que um provoca no outro. Essa é a decifração
própria do mitólogo e que pretendo desenvolver
neste trabalho.
Para
BARTHES (2003), o mito não esconde nada, ele deforma,
o inconsciente não é necessário para entendê-lo.
O princípio do mito é transformar a história
em natureza e essa naturalização faz com que o
mito apareça como uma fala inocente, pondo em andamento
o próprio processo da ideologia burguesa, dominante.
Essa despolitização acontece segundo uma lógica
utilitária, os homens despolitizam as falas de acordo
com suas necessidades. O mito, ao passar da história
à natureza, confere simplicidade aos atos humanos, suprimindo
qualquer dialética, qualquer contradição.
Assim,
uma linguagem revolucionária, inclusive no sentido da
emancipação das mulheres, não pode ser
uma linguagem mítica, pois a revolução,
como aponta BARTHES (2003) se destina a revelar a carga política
do mundo, produzindo uma fala inicialmente e finalmente política
e não inicialmente política e finalmente natural
como o mito produz.
4.
Análise de Dados
Essa
análise desvela os mecanismos através dos quais
as reportagens do JH afirmam esquemas de dominação
masculina, admitindo que neste processo há espaço
para uma luta cognitiva por parte das mulheres que por vezes
questionam sua condição.
Nas
edições analisadas do JH, 62,4 % das sonoras das
reportagens foram feitas com homens e 37,6% com mulheres. Os
números mostram que o discurso do telejornal dá
preferência à consulta aos homens quando necessita
de intervenções para legitimar as idéias
que apresenta. A escolha dos entrevistados nunca vai contradizer
o que os repórteres estão dizendo, não
porque a "opinião pública" ratifica
o que é dito no telejornal, mas porque enquanto constrói
a reportagem, o jornalista seleciona a pessoa que vai ser entrevistada,
muitas vezes combina o que será dito e, posteriormente,
seleciona o trecho da fala das pessoas que melhor se encaixa
no discurso que ele está construindo.
No
Manual de Telejornalismo escrito por BARBEIRO e LIMA (2002),
a recomendação é a seguinte: "Boas
entrevistas são as que revelam conhecimentos, esclarecem
fatos, e marcam opiniões" (ibid., p. 84). Essas
características devem estar de acordo com os objetivos
editoriais do veículo, do enfoque pretendido para a matéria,
salvo exceções em que a fala do entrevistado surpreende
e dá um novo gancho para o repórter.
Conhecimentos
relevantes, capacidade de esclarecimento e opiniões fortes
esperadas das fontes entrevistadas, como mostram os dados, estão
mais associados aos homens do que às mulheres. Aliás,
essas atribuições, assim como a capacidade retórica
e a desenvoltura em público são ligadas às
atividades historicamente concebidas como masculinas. Trata-se
então de autoridade. Associadas historicamente às
atividades privadas, as mulheres passam a ter uma suposta "autoridade"
(não no sentido de poder) para falar sobre aspectos ligados
aos filhos, ao lar e à comunidade onde vivem. Já
os homens possuem essa mesma autoridade quando se fala de política,
de direito, de ciência.
Mais
do que a freqüência com que homens e mulheres são
chamados a apresentar-se na mídia, a identificação
que recebem e o papel que desempenham em relação
ao assunto tratado na reportagem é fundamental para compreender-se
como o telejornal reproduz a dominação simbólica
e produz mitos sobre feminilidade e mulheres.
A
pesquisa mostra que, das 41 mulheres que apareceram em sonoras,
15 (36,6%) receberam o rótulo de donas de casa. Depois,
em menor número, aparecem mulheres identificadas como
crianças (pela idade), mães, professora, relações
públicas, perfumista, jovem (também pela idade),
estudante, vendedora, moradora, representante de organizações
civis, procuradora, desempregada, comerciante, funcionária
de universidade, garçonete.
E,
dos 63 homens que apareceram em sonoras, 14 (22,2%) foram identificados
como profissionais liberais (médico, advogado, engenheiro,
programador etc.); recebem destaque 6 representantes do poder
executivo e 6 forças armadas (exército e polícia
civil, militar e federal). Também aparecem sonoras com
operário, mecânico, artista, aposentado, estudante,
representante de organizações civis, agricultor,
desempregado, empresário, jovens, pesquisador, pai, promotor
de justiça, instrutor, intérprete, gerente de
banco, dono de imóvel.
Como
a construção social de homens e mulheres ocorre
a partir de uma existência relacional, é fácil
também identificar oposições recorrentes
nessa relação: a principal delas é entre
a esfera pública relacionada majoritariamente aos homens
e a esfera privada/doméstica às mulheres. Isto
tem relação com a posição que cada
um dos gêneros ocupa em relação ao trabalho.
Temos, por exemplo: a mulher comerciante e o homem empresário;
a professora e o instrutor; a moradora e o dono de imóvel;
a funcionária de universidade e o pesquisador.
A
partir das identificações recebidas nas sonoras
com homens e mulheres, percebe-se que essa consulta a pessoas
"comuns" trata de gerar uma aceitação
com naturalidade da divisão sexual do trabalho em linhas
gerais, o que não quer dizer que não existam mulheres
nas forças armadas e homens que cuidem sozinhos da casa
e dos filhos. Como aponta BOURDIEU (2003, p. 112):
Os
homens continuam a dominar o espaço público e
a área de poder (sobretudo econômico, sobre a produção),
ao passo que as mulheres ficam destinadas (predominantemente)
ao espaço privado (doméstico, lugar de reprodução)
em que se perpetua a lógica da economia de bens simbólicos,
ou a essas espécies de extensões deste espaço,
que são os serviços sociais (sobretudo hospitalares)
e educativos, ou ainda os universos da produção
simbólica (área literária e artística,
jornalismo etc.).
A
aparente normalidade com que homens e mulheres são chamados
a falar sobre assuntos determinados para cada um dos gêneros
só é possível a partir dos mitos. Como
o mito é uma fala despolitizada, a incidência de
mulheres "donas de casa" no telejornal não
é requisitada para demonstrar o caráter subalterno
das atividades que desempenha, mas para afirmar um caráter
naturalizado de mulheres falando sobre questões ligadas
ao dia a dia do lar.
Não
se trata da significação, mas do significante,
da imagem da mulher, associada a uma legenda que sintetiza a
leitura que se deve ter dos signos.
As
mulheres "donas de casa" são aquelas dedicadas
ao trabalho doméstico, aqui, a palavra "dona"
de maneira nenhuma atribui à mulher uma situação
de proprietária. Basta perceber que quando a idéia
de propriedade é requerida, o significante é outro:
na edição do Jornal Hoje do dia 22 de outubro,
uma das sonoras traz um homem com o GC [5] "dono de imóvel",
neste caso, o homem é proprietário de um bem material
e essa atribuição nada tem a ver com as atividades
domésticas, aliás, carrega o mito de que o homem
não assume papel submisso. Como veremos a seguir, mesmo
quando a mulher é identificada de forma diferenciada,
em uma categoria que detém mais status, como no caso
da promotora de justiça, por exemplo, o mito está
presente.
Maria
As
reportagens selecionadas nos dias 19 e 23 de outubro tratam
do mesmo tema: o programa Bolsa Família do Governo Federal.
A abordagem e o enfoque também são parecidos,
elas são complementares no que diz respeito à
produção do mito "mulher-dona de casa-pobre".
Marion
Otberg
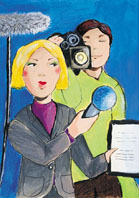 |
Nessas
matérias, vê-se como o jornalismo pode "paradoxalmente,
ocultar mostrando", utilizando a expressão
de BOURDIEU (1997). O enfoque e a abordagem do assunto
vai delimitar o que é importante e o que é
insignificante. É o princípio mesmo do mito,
que despolitiza uma fala segundo suas necessidades. As
duas matérias iniciam com a colocação
de que pessoas carentes têm direito ao Bolsa Família,
em seguida, definem quem são essas pessoas carentes:
as mulheres. A matéria do dia 23 é o ponto
de partida dessa análise, já no primeiro
off, [6], temos a narração: "Uma agência
só para Marias, essa rua foi interditada em Maceió
por causa das filas".
|
Neste
momento, aparece a imagem da fachada de uma agência da
Caixa Econômica Federal, com uma faixa onde está
escrito "Todas as 'Marias'". Na rua, uma multidão
de mulheres amontoada na rua protege-se do sol com sombrinhas
coloridas. Signos verbais e imagens unem-se para construir o
mito da mulher que depende do Bolsa Família. É
uma mistura de "Maria mãe do filho de Deus",
com "Maria que faz o serviço de casa", "pobre
Maria!". É uma categoria de mulheres que vai aparecer
nas duas matérias numa posição de dependência
em relação ao Estado, que não produzem,
estão à margem do sistema, precisam da ajuda do
governo para sustentar os filhos e a si mesmas.
A
presença de crianças próximas às
mulheres, em ambas as matérias, também deve ser
levada em conta no que diz respeito à construção
do mito. Os filhos aparecem como dependentes, neste caso, dessa
dedicação materna como a de "Dona Antonia",
que diz "Pra pegar uma ficha aqui tem que ser a gente vir
um dia pra dormir, pra pegar um cantinho aqui, porque a fila
dobra"; ou como a de Josiane Moura, que com o filho no
colo aguarda uma "benção". Falando de
mito, por que não explorar também a sensibilidade
e a instabilidade, itens típicos do mito da feminilidade?
É isso que se faz na matéria do dia 23. "Dona
Ângela" aparece retirando o dinheiro do Bolsa Família
no caixa eletrônico do banco. Um plano seqüência
[7] dá conta de mostrar a felicidade da mulher, saindo
do banco e fazendo sinal de positivo. Em seguida, na sonora,
em primeiro plano, [8] a Ângela chora ao falar: "Eu
tenho nove filhos, tenho um deficiente, né, e vou agora
no mercadinho comprar as coisas para eles".
Na
matéria do dia 19, a expressão de pobreza é
mais evidente, as ruas de terra, as casas de madeira mal cuidadas,
sem muros, sem calçadas chegam a ser agoniantes. Numa
mesma casa, uma mulher negra cuida de crianças enquanto
a mulher branca trabalha no quintal. Nessa mesma matéria,
o contraponto: primeiramente, a sonora com uma mulher não
identificada com GC, com o cenário já descrito
ao fundo, ela diz que vai reclamar e não consegue resolver
o problema do benefício. Depois, uma sonora com um homem,
Altair Gonçalves, identificado como operário,
trabalha em um depósito.
No
off, o repórter afirma que Altair conseguiu descobrir
o que estava acontecendo e resolveu o problema. Aqui, vemos
uma série de oposições entre o homem e
a mulher, relacionando os dois casos:
- identificação/anonimato;
capacidade/incapacidade;
- eficiência/ineficiência;
produtivo/improdutivo.
Cinco
mulheres aparecem em sonoras nas duas reportagens, todas na
posição de donas de casa, aliás, este rótulo
é dado pelo GC que estabelece a função
legitimadora que a mulher entrevistada tem em relação
à mensagem produzida pelo repórter. É como
se as mulheres pobres estivessem fadadas a depender do marido
ou do Estado como provedores. E, essa relação
é naturalizada, sua história não aparece,
assim como a história das mulheres trabalhadoras não
aparece. Enquanto o único homem entrevistado é
um operário, mostrado durante o trabalho.
Voltando
na história, vê-se que, no século XIX, o
Brasil sofre mudanças significativas, o capitalismo consolida-se,
a burguesia ascende e a vida urbana começa a se desenvolver.
A mentalidade burguesa passa então a reorganizar a vida
doméstica e familiar e as atividades das mulheres. Segundo
D'INCAO (apud DEL PRIORE, 1997, p. 225): "A vida burguesa
reorganiza as vivências domésticas. Um sólido
ambiente familiar, lar acolhedor, filhos educados e a esposa
dedicada ao marido e sua companheira na vida social são
considerados um verdadeiro tesouro". De certa forma, os
homens dependiam da imagem que as mulheres passavam no grupo
de convívio social, estas possuíam um capital
simbólico importante, mesmo que a autoridade familiar
se mantivesse nas mãos do pai ou marido.
A
emergência da família burguesa reforça no
imaginário a importância do amor familiar e do
cuidado com os filhos e redefine o papel feminino, reservando
para as mulheres atividades domésticas. A mulher era
um objeto com valor econômico e político, já
que os casamentos eram verdadeiros negócios que deveriam
garantir questões como herança e propriedade.
Neste caso, a virgindade que para muitas mulheres é tabu
até hoje, funcionava como um "selo de garantia",
que atribuía status às noivas. As mulheres encontravam-se
sob extrema vigilância como forma de garantir esse sistema
de casamento por interesses políticos e econômicos.
Essa vigilância, no decorrer do século XIX e começo
do século XX, diminui na medida em que as mulheres internalizam
a opressão e passam a se autovigiar, aprendem a se comportar
segundo os padrões exigidos na época.
Já
a organização familiar da classe popular era diferenciada,
no início do século XX, muitas famílias
eram chefiadas por mulheres sem maridos, não só
por dificuldades econômicas, mas por valores próprios
da classe. Então, chega o momento em que os valores burgueses
precisam ser inculcados nas classes trabalhadoras, que devem
ser disciplinadas de acordo com o espaço e o tempo de
trabalho, com reflexos nas demais esferas da vida.
De
um lado, então, temos a moral, o casamento, a submissão
e castidade da mulher burguesa; do outro, a falta de legitimidade
e de casamentos, a insatisfação feminina. A moralidade
oficial estava completamente deslocada da realidade da mulher
pobre, que sempre trabalhou fora de casa; o baixo salário
do marido dificilmente seria suficiente para sustentar a casa,
no entanto, se ela se dedicasse ao trabalho na rua, correria
o risco de ser tachada, como aponta Cláudia FONSECA,
[9] de "mulher pública". A mulher que tinha
trabalho assalariado, ao invés de ser valorizada, tinha
que se defender da difamação moralista.
A
visão de muitos setores sociais era de que o mundo do
trabalho seria uma ofensa à honra feminina e levaria
à desagregação da família, um ataque
à organização do Estado. Portanto, as mulheres
deveriam se dedicar às atividades domésticas somente.
Além disso, com a fabricação industrial
de produtos antes feitos em casa, as atividades domésticas
foram desvalorizadas e a ideologia reproduzida pelo discurso
masculino trata de atribuir determinado papel às mulheres:
Ser
mãe, mais do que nunca, tornou-se a principal missão
da mulher num mundo em que se procurava estabelecer rígidas
fronteiras entre a esfera pública, definida como essencialmente
masculina, e a privada, vista como lugar natural da esposa-mãe-dona
de casa e de seus filhos (RAGO apud DEL PRIORE, 1997, p. 591).
Como
a participação da mulher no trabalho torna-se
inevitável, passa a difundir-se em toda a sociedade brasileira,
como aponta RAGO (apud DEL PRIORE, 1997), o ideal de "mãe
cívica", com dupla jornada, é a trabalhadora
moderna e competente mãe de família, que passa
a instruir-se e participar dos grandes debates nacionais.
Nesse
sentido, há outro aspecto interessante em relação
à matéria do dia 19: mulheres de um bairro pobre
de Uberlândia, Minas Gerais, reúnem-se para descobrir
por que não estão recebendo o benefício
do governo. O repórter diz: "As mulheres suspeitam
de fraude, nesta reunião, nomearam representantes que
vão investigar por conta própria por que o dinheiro
não veio". As mulheres estão reunidas em
um círculo no meio da rua de terra, as crianças
brincam em volta. Estamos diante de "mães cívicas",
mas também de "mulheres a beira de um ataque de
nervos" de Pedro Almodóvar. Na verdade, uma conversa
que costuma acontecer normalmente entre as mulheres é
transformada, nessa matéria, em um grande ato de cidadania,
é o cotidiano transformado em extraordinário,
mães que não podem deixar de "lutar"
pelos direitos que possuem. Aqui, o mito estabelece até
onde precisa ir a ação política das mulheres.
Nada de transformar a sociedade nem mesmo acabar com opressões,
basta exigir o "mata-fome" do governo.
Questão
de Justiça
A reportagem do dia 20 fala sobre a Defensoria Pública
e o direito constitucional de acesso à justiça.
A análise é feita, primeiramente sobre a imagem
da mulher em relação à imagem do homem
e, posteriormente, sobre a representação da mulher
identificada como "promotora".
Para
isso, utiliza-se as sonoras realizadas com Frederico Bizzoto
e Mariângela Sarrubo. A sonora de Frederico é precedida
pelo seguinte off: "No Rio de Janeiro, as queixas mais
comuns são contra bancos, cartões de crédito,
empresas de telefonia e planos de saúde. Graças
aos defensores públicos, a dignidade e a cidadania podem
ser exercidas por todos". Enquanto isso, as imagens mostram
os guichês de atendimento, documentos sendo entregues
por um homem que é atendido pelo defensor, um primeiro
plano do rosto em plon-g [10] do defensor com tilt [11] para
as mãos que seguram e folheiam um livro. Essas imagens
trazem toda a importância do defensor, filmado de baixo
para cima, ele adquire grandiosidade e expressividade, o livro
sendo folheado é um elemento que atribui legitimidade
e autoridade a Frederico, que fala em seguida: "Se existe
o lado mais fraco, aqui pela Defensoria Pública, através
do defensor, isso é equilibrado, e na justiça,
essa briga acontece de igual para igual". O GC identifica
Frederico como "defensor público", ele está
vestido de terno e gravata, o plano médio [12] nos permite
ver pessoas sendo atendidas em segundo plano.
No
caso de Frederico percebemos o mito do super-herói, o
defensor dos "mais fracos", como ele mesmo diz. Aliás,
como mostram as imagens, ele tem autoridade no assunto, sabe
o que diz e está mesmo resolvendo o problema das pessoas,
basta olhar em volta dele.
Com
Mariângela Sarrubo, a abordagem é outra. Desta
vez, a mulher aparece em uma posição diferenciada,
ocupa uma posição de status social. Ela é
identificada pelo GC como promotora. Está vestida com
um tailler vermelho, sentada em uma pomposa cadeira de madeira
talhada. Em segundo plano, vemos uma estante de livros. Aqui,
podemos achar que o mito não existe, mas de qualquer
forma está presente, pois o acesso da mulher a cargos
importantes do sistema judiciário é recente e
encontra dificuldades como em outras áreas. A imagem
de Mariângela também não nos faz pensar
que a questão da classe social é um agravante
para a formação da mulher, dessa forma, as funcionárias
públicas de alto escalão acabam fazendo parte
de um setor "aristocrático" da classe trabalhadora,
que sente bem menos a opressão, justamente por possuir
uma posição social melhor. Além disso,
apesar da concorrência com os homens em cargos de carreira,
no serviço público, os rendimentos entre homens
e mulheres tendem a ser igualados.
Além
disso, há outra questão: nas edições
do JH analisadas, além de Mariângela Sarrubo, outros
dois promotores aparecem em sonoras. O CG os identifica como
"promotores de justiça", e no caso dela, somente
como "promotora". Pode ser que isso tenha acontecido
por acaso, mas em um jornal da Rede Globo, que segue tantas
normas e padronizações, é estranho que
isso aconteça. De qualquer forma, propositadamente ou
não, a imagem da mulher, diferentemente dos homens, não
foi associada à questão da "justiça".
Se
pensarmos que muitas pessoas não sabem o que é
uma promotora nem que atividades ela desempenha, esse detalhe
faz grande diferença. São essas mínimas
coisas que reproduzem a ideologia dominante de maneira insensível.
Mulher
em pele de homem
No
dia 21 de outubro, a matéria selecionada é sobre
tecnologia e Fórmula 1. A princípio pode-se pensar
uma análise somente sobre a completa hegemonia dos homens
nos esportes automobilísticos. Porém, esta abordagem
inclui também o papel da repórter mulher e a ironia
que carrega nesta reportagem.
Primeiramente,
é considerada a situação histórica
que confere o espaço da prática de esportes ao
domínio masculino. É notável que essa situação
tem sofrido mudanças significativas e as mulheres têm
cada vez mais praticado esportes e atividades de lazer que antigamente
eram exclusividade dos homens. Como lembra BRUHNS (apud ROMERO,
1995), o Decreto-Lei 3.199, de 1941, vigente até 1975,
em seu artigo 54 estabelece que "às mulheres não
se permitirá a prática de desportos incompatíveis
com as condições de sua natureza". E, em
1965, o Conselho Nacional de Desportos delibera que as entidades
desportivas devem seguir a seguinte norma em relação
à prática esportiva das mulheres: "Não
é permitida a prática de lutas de qualquer natureza,
futebol, futebol de salão, futebol de praia, pólo,
halterofilismo e beisebol". Hoje, essas normas não
têm validade, mas ainda há muito que mudar.
Mesmo
praticando esportes que antes eram proibidos, as mulheres precisam
vencer diversos obstáculos. No futebol, por exemplo,
a profissionalização é infinitamente mais
difícil para as mulheres, porque não há
uma entidade forte que organize o futebol feminino e também
não há investimento público nem privado.
Se no mercado de trabalho as mulheres precisam se destacar e
se dedicar mais do que os homens para receber o mesmo reconhecimento
e remuneração, nos esportes não é
diferente, basta lembrarmos que a equipe de futebol feminino
do Brasil foi vice-campeã olímpica em 2004 e,
de volta ao país, jogadoras e comissão técnica
lutam para organizar uma liga profissional ao menos no estado
de São Paulo.
No
caso de esportes mais caros, a situação fica mais
complicada. No automobilismo, assunto da matéria analisada,
a hegemonia também é masculina, o que se deve
a vários fatores: primeiramente, sabemos que quando nasce
uma criança, de acordo com a configuração
dos órgãos sexuais, ela será estimulada
a ter certas preferências, ou seja, meninos ganham carrinhos,
armas e bonecos de super-heróis, enquanto meninas ganham
bonecas e miniaturas de eletrodomésticos e utensílios.
Assim, as crianças adquirem valores de papéis
sexuais, tornando-se homens ou mulheres a partir da socialização,
que sofre influência também da classe social à
qual pertencem.
Em
linhas gerais, o estímulo ao desenvolvimento de habilidades
no automobilismo é muito maior no caso dos meninos:
Sobre
um menino, mesmo antes de nascer, já recai toda uma expectativa
de segurança e altivez de um macho que vai dar seqüência
à linhagem (...) mais tarde, esse menino começa
a brincar na rua (futebol, pipa, subir em árvores, carrinho
de rolemã, skate, bolinha de gude, bicicleta, taco etc.),
porque, segundo as mães, se ficar em casa vai atrapalhar.
Em torno de uma menina, quando nasce, paira toda uma névoa
de delicadeza e cuidados (...) são estimuladas o tempo
todo a agir com delicadeza e bons modos, a não se sujar,
não suar. Portanto, devem ficar em casa, a fim de ser
preservadas das brincadeiras 'de menino' e ajudar as mães
nos trabalhos domésticos, que lhes serão úteis
futuramente quando se tornarem esposas e mães. Esses
hábitos corporais masculinos e femininos vão,
ao longo do tempo e dependendo da sociedade, tornando um sexo
mais hábil do que outro em termos motores (BRUHNS apud
ROMERO, 1995, p. 102).
Como
há exceções, meninas também se interessam
em participar das categorias de base, como das corridas de Kart,
mas na maioria das vezes precisam vencer o preconceito dos pais,
dos demais participantes e organizadores, e do discurso opressor
disfarçado de dito popular: "mulher no volante,
perigo constante". Com todas essas adversidades, muitas
acabam desistindo e não passando às outras categorias.
Além disso, esse esporte requer um investimento financeiro
alto e os pais não investem porque acham que a mulher
nesse espaço não terá "futuro".
Quando as mulheres conseguem entrar no meio tradicionalmente
masculino, recebem rótulos que desmerecem sua atuação
como atleta, em relação a atributos como beleza,
sensualidade.
Lembremos
do caso da sem-terra Débora Rodrigues, a única
mulher que corre de caminhão na Fórmula Truck,
quando foi "descoberta" pela mídia tornou-se
um dos mais cobiçados objetos de desejo, símbolo
sexual que fez grande sucesso nas revistas masculinas.
Iniciando
pelos signos verbais da reportagem selecionada, podemos verificar
que já na cabeça da reportagem constitui-se a
relação mítica entre homem e tecnologia.
"Homem" não no sentido genérico, mas
no sentido do gênero masculino. A colocação:
"Na Fórmula 1, os carros roubam a cena, mas a tecnologia
não é exclusividade das máquinas (...)
os equipamentos de segurança usados pelos pilotos também
são aperfeiçoados", nos permite a livre associação
entre tecnologia de ponta e a atividade masculina. Mais à
frente vemos que o material das roupas dos pilotos foi "criado
originalmente para os astronautas na década de 60",
o que confirma a associação. É um mundo
dos homens para os homens, é a segurança garantida
nos momentos em que esses se expõem ao risco. Aliás,
a exposição a situações de perigo
faz parte de uma realidade masculina construída desde
a infância, com a idolatria dos super-heróis que
vencem o perigo como maior expressão de seu poder, a
certeza e necessidade de superação de limites,
aliás, estes são muito mais amplos do que os impostos
às mulheres.
Como
essa tecnologia desenvolvida para propiciar segurança
tem apelo industrial, a matéria traz um empresário
do ramo têxtil para falar com propriedade sobre os benefícios
do produto não só para os pilotos, de como a tecnologia
trabalha para garantir a vida dos heróis das pistas.
Além disso, o segundo off atribui status ao tecido, dizendo
que suas fibras, de meta-aramida, são produzidas na Europa
e estão presentes no macacão e acessórios
dos pilotos. Essa preocupação com a segurança
torna-se obrigatória, como coloca a repórter,
depois do acidente de Nick Lauda, em 1976, que fez o "herói"
ter a face desfigurada pelo fogo. Este tipo de falha não
é aceitável no mito do homem tecnológico.
Vamos
às imagens: uma falsa subjetiva [13] do piloto ultrapassando
outros carros é seguida de PG da pista de corrida e uma
fusão com o lançamento de um foguete. São
duas atividades que fazem parte de uma mesma realidade: de superação,
determinação, coragem, poder acessível
a poucos privilegiados que passam a ter status de herói.
Depois, temos imagens das roupas de meta-aramida dos pilotos
de Fórmula 1, penduradas em cabides ou expostas em prateleiras,
não se trata de moda, apesar do design avançado,
trata-se de tecnologia, de ciência aplicada. Por isso,
não teria lógica colocar um modelo desfilando
com o macacão e os acessórios. Um modelo não,
mas a repórter coloca a roupa para dar um ar de irreverência
na matéria que trata de assunto tão sério,
mas ligado também à prática esportiva,
que costuma ser tratada mais informalmente no jornalismo.
Inicia
a passagem da repórter Adriana Bittar: "Segurança
total, dos pés à cabeça. Não é
só a roupa que é resistente ao fogo. Você
já deve ter reparado, numa corrida, só os olhos
do piloto ficam de fora. Parece um gorro, não parece?
Isso aqui é a balaclava, fundamental para proteger o
rosto".
Enquanto
ela fala, sua imagem surge com movimento dolly [14] dos pés
à cabeça, em segundo plano estão as prateleiras
com capacetes, e então, um plano médio mostra
a repórter retirando a balaclava. O que temos aqui? A
mulher não aparece nas corridas, não é
astronauta, nem empresária. É repórter,
que vai servir de manequim para as roupas que são de
uso exclusivo dos homens no automobilismo. Sua postura não
é de atleta, mas tem pose de mulher recatada: pernas
fechadas, corpo de lado; tem também sensualidade nos
cabelos libertados numa imagem típica de propaganda de
xampu.
Em
nenhum momento a imagem de Adriana está ligada à
noção de superação de perigos, de
acesso à tecnologia de ponta e nada traz à idéia
de heroína.
Ela
é um manequim, um objeto de exposição,
que como o da vitrine, não se relaciona com a finalidade
social do que veste. É o mito da mulher-objeto, passiva,
deslocada em um mundo que não é o dela. Este deslocamento
gera um tom irônico na matéria, afinal, "o
que é esta mulher com macacão de piloto?",
ela recebeu permissão para isso, como se o acesso àquela
posição fosse de alguma forma possível.
Como aponta BARTHES (2003), essa comicidade tem uma razão
de ser:
A
patologia de tal divertimento é difícil de suportar:
se nos divertimos com uma contradição é
porque pensamos que os seus termos estão muito afastados,
isto é, os reis são de uma essência sobre-humana.
Quando assumem temporariamente certas formas de vida democrática,
trata-se indubitavelmente de uma encarnação contrária
à natureza, apenas possível por condescendência
(ibid., p. 36).
O
mito da concorrência leal
Disputa
por emprego temporário. Este assunto vira lugar-comum
nas edições de jornal conforme nos aproximamos
do final de ano. Aparentemente inocente e favorável às
mulheres, essa matéria traz mitos próprios do
caráter que assume a dominação masculina
no modo de produção capitalista.
Antes da matéria principal, a apresentadora Sandra Annenberg
lê uma nota sobre as taxas de desemprego no país.
Porcentagem e número absoluto tratam do desemprego como
um todo, em nenhum momento fala-se da diferença existente
nos índices de desemprego entre homens e mulheres.
Já
na reportagem, o apresentador Evaristo Costa inicia: "Na
batalha por uma vaga, muita gente torce por um fim de ano mais
tranqüilo, já que nessa época aumentam as
chances de um emprego temporário. E será que todos
sabem quais as regras desse tipo de trabalho?". Segundo
esta colocação, a massa de trabalhadores e trabalhadoras
desempregadas é indiferenciada. Mas, eles vão
além durante o primeiro off: "Valdomiro preencheu
a ficha de candidato como quem escreve uma cartinha para Papai
Noel", Valdomiro aparece sentado preenchendo uma ficha
em segunda plano, em primeiro plano, uma mulher mais velha do
que ele também escreve.
Já
o segundo off diz: "Rogevânia tem experiência
no comércio", enquanto a imagem mostra Rogevânia
sentada escrevendo. A partir do discurso construído até
aqui, a mulher está em vantagem em relação
ao homem, enquanto ela tem experiência, portanto, condições
reais de conseguir um posto de trabalho, ele espera uma dádiva,
um presente de Papai Noel. Esta é a própria expressão
do mito enquanto inversão da realidade social. Em São
Paulo, por exemplo, a pesquisa do DIEESE mostra que, em 2003,
a taxa de desemprego estrutural entre as mulheres chegou a 23,1%
e dos homens era de 17,2%. Além disso, os dados também
mostram que a entrada da mulher no mercado de trabalho é
marcada pela desigualdade de inserção, de remuneração
e de oportunidades, desenvolvendo atividades mais precárias
e sofrem mais com a instabilidade no emprego, caso típico
dos empregos temporários de final de ano. Ignora-se também
na mensagem da matéria que, quanto mais idade, mais difícil
é conseguir uma vaga.
E,
essas condições são uma herança
do passado. No começo do século XX, no Brasil,
grande parte do proletariado era constituída por mulheres
e crianças, que enfrentavam longas jornadas de trabalho,
tinham salários baixos, sofriam com os maus tratos dos
patrões e com o assédio sexual. A maioria delas
era de imigrantes, que vinham principalmente da Europa e constituíam
mão-de-obra barata.
Na
divisão do trabalho, as mulheres costumavam ficar com
as tarefas menos especializadas e mal remuneradas. Muitas trabalhavam
como costureiras em casa para completar o orçamento doméstico.
Além disso, eram empregadas domésticas, lavadeiras,
cozinheiras, governantas.
Apesar
da significativa presença da mulher no mercado de trabalho
brasileiro do início do século XX, elas não
foram progressivamente substituindo os homens nas fábricas,
pelo contrário, com o tempo, elas vão sendo expulsas
das fábricas com o aumento da industrialização.
Nessa época, o discurso científico tratava de
difundir a idéia de que a participação
da mulher na vida pública era incompatível com
sua natureza biológica.
Durante
a Segunda Guerra Mundial, as mulheres encontram novas oportunidades,
já que os homens saudáveis foram para as trincheiras,
elas estavam dispostas a ocupar as vagas deixadas nas fábricas,
nos escritórios e nas universidades. [15]
Voltando
a outro aspecto da reportagem em questão, uma das mulheres
que conseguiu um trabalho é a jovem Karina Castro. Vai
trabalhar durante três meses em uma loja de brinquedos.
Na sonora, Karina diz: "Chego no horário, nunca
cheguei atrasada e pretendo ficar aqui". Atrás de
Karina, um mundo cor-de-rosa, sua imagem aparece em meio a brinquedos
considerados "para meninas", a tentativa de identificação
é inegável. Além disso, ao que parece,
basta a disciplina para que ela consiga um posto fixo de trabalho.
Estas simplificação e redução também
são próprias do mito.
Ditadura
do corpo
A
matéria escolhida para análise do dia 25 de outubro
fala sobre a estudante de medicina, Priscilla Meirelles, brasileira
que ganhou o concurso de "Miss Terra". Este concurso,
iniciado em 2001 e realizado anualmente, é uma promoção
da Carousel Productions Inc, sediada em Manila, nas Filipinas.
O "Miss Terra" é considerado um dos maiores
concursos de beleza do mundo, e está, assim como o Beleza
Brasil, ligado à questão turística, principalmente
ao eco-turismo. Em 2002, o concurso contou com a participação
de 53 países.
|
A
matéria começa com a seguinte fala de Sandra
Annenberg: "A beleza da mulher brasileira segue conquistando
o mundo". Aqui, já se evidencia uma padronização,
"a" beleza, um único tipo de beleza própria
das mulheres brasileiras, na verdade, a beleza que deve
servir de exemplo, que deve ser buscada a qualquer custo.
É
como se a mulher brasileira que não possui "a"
beleza, não possuísse nenhum outro atributo
a ser valorizado.
|
Reprodução

Sandra Annenberg
|
É
a própria expressão do "mito da beleza"
abordado por Maritza Maffei da SILVA (apud ROMERO, 1995, p.
119): "não admite a feiúra ou a velhice,
vende-se um modelo erótico-estético que age por
exclusão - o que não se amolda a ele está
fora do jogo".
Annenberg
continua: "A universitária Priscila Meirelles de
vinte e um anos concorreu com misses de mais de sessenta países
e, é claro, se emocionou quando soube que era Miss Terra
2004". Segundo este discurso, a realização
da mulher a partir de um concurso de beleza, em que ela se submete
à expressão máxima da reificação,
moldando-se a um padrão que deve ser aprovado e consumido,
parece óbvia. A miss se emociona "é claro",
como se ali tivesse conseguido alcançar a felicidade
plena, uma felicidade que reside simbolicamente nos objetos
e na conformação dos corpos. Os meios de comunicação
cada vez mais produzem essa confusão em relação
à felicidade e à personalidade.
Ainda:
"(...) as candidatas devem promover a defesa do meio ambiente
e o ecoturismo. No ano passado, o concurso ganhou fama pela
presença de uma miss do Afeganistão, que marcou
a volta do país aos concursos de beleza feminina, depois
de trinta anos". Este trecho da matéria nos traz
três pontos para discussão. Primeiro, como o avanço
da mulher no mercado de trabalho e em atividades intelectuais
é evidente, o discurso mítico precisa se adequar
a essa nova realidade, o ideal de beleza vem associado à
capacidade de pensar, é a forma encontrada pelo mito
para dialogar com a atualidade, até porque o mito não
é uma mentira, ele não esconde nada, apenas deforma.
Em segundo lugar, "promover o ecoturismo" refere-se
à submissão da miss aos interesses mercadológicos
que ela deve atender, não podemos esquecer que o concurso
é realizado por uma entidade privada, que passa a ter
propriedade sobre as ações das "eleitas".
Em
terceiro, temos a "presença da miss do Afeganistão",
como se o concurso de beleza fosse a maior expressão
de liberdade e democracia para as mulheres que viviam submetidas
a regimes políticos extremamente opressores, que utilizam-se
não só da violência simbólica, mas
da violência física para manter as mulheres numa
posição de subjugo. No entanto, a ditadura da
beleza é mais do que presente e a abordagem desta matéria,
além de tudo, legitima a intervenção militar
norte-americana naquele país. Neste ponto, a imagem traz
um plano médio da miss Afeganistão sentada na
platéia, ao invés da burka, um belo vestido decotado,
o rosto descoberto e maquiado. Não se quer aqui, de forma
nenhuma, sugerir que a situação dela era melhor
antes, mas não se pode deixar de perceber como a imagem
da mulher é usada neste caso.
As
imagens veiculadas nessa matéria são importantes
para compreendermos a construção do mito da beleza,
mas também da erotização e da estética
perfeita. Um plano geral da miss brasileira vestida de verde
numa clara referência patriótica, sendo coroada
por uma mulher de vestido vermelho, em meio a outras mulheres,
em uma escadaria, sob chuva de papel picado é a representação
de um acordo social existente de que todas as mulheres buscam
os mesmos objetivos, todas têm os mesmo sonhos e, mesmo
competindo, são capazes de comemorar juntas o êxito
na adequação aos padrões, mesmo que alegria
em relação à vitória da outra seja
dissimulada, aliás, a capacidade de dissimulação
é uma das características essenciais para o exercício
do reinado da miss. O zoom-in [16] da coroação
aproxima o público da "felicidade" demonstrada
pelo sorriso da brasileira e ratificada pelo comentário
de Sandra Annenberg: "é claro, se emocionou quando
soube que era Miss Terra".
A
panorâmica das candidatas na escadaria do palco, parecendo
estar fantasiadas, atribui um caráter carnavalesco ao
concurso e talvez possamos falar em carnaval no sentido bakhtiniano,
[17] de momento único de inversão da realidade
social: é o momento em que as mulheres adquirem expressão
pública, mesmo que não precisem falar, pois seus
corpos normatizados falam por si. Uma outra panorâmica
das quatro mulheres premiadas, todas morenas, altas e magras
de certa forma demonstra o que se espera de uma mulher. A última
imagem da matéria nos coloca diante de uma prateleira
de produtos indiferenciados, é um zoom-out [18] das mulheres
descendo a escadaria, todas com biquíni azul e batendo
palmas: corpos idênticos, com vestimenta idêntica,
comportamento idêntico, ações idênticas.
Com certeza, nada de personalidade, é como estar diante
de uma coluna de soldados nazistas em marcha.
Nelson
LUCERO (apud ROMERO, 1995, p. 50) recorre à "Sociedade
do consumo", de Jean BAUDRILLARD [19] para tratar da representação
da mulher-objeto:
Sob
o signo da libertação física e sexual,
a sua onipresença (...) na publicidade, na moda e na
cultura de massa - o culto higiênico, dietético
e terapêutico com que se rodeia, a obsessão pela
juventude, elegância, virilidade/feminilidade, cuidados,
regimes, práticas sacrificiais que com ele se conectam,
o Mito do Prazer que o circunda - tudo hoje testemunha que o
corpo se tornou [sic] objeto de salvação.
BARTHES
(2003) diria que, reduzidas a um rosto, a ombros, a cabelos,
essas mulheres expressam a virtuosa irrealidade de seu sexo.
Os discursos produzidos pela mídia, especialmente a propaganda,
induzem as pessoas a determinadas práticas e comportamentos
em relação ao corpo. Muitas vezes, esses discursos
buscam uma legitimidade "cientifica", na tentativa
de estabelecer "verdades" aparentes que justifiquem
esses comportamentos, de acordo com os interesses de grupos
hegemônicos. Assim, em cada época, define-se o
perfil ideal de homens e mulheres, com padrões corporais,
de valores e supostas necessidades.
No
período do Renascimento, por exemplo, há uma redescoberta
do corpo, ligada à preocupação de liberdade
do ser humano no sentido liberal; nas artes, o nu é recorrente.
No século XVIII, ao mesmo tempo em que existe uma preocupação
com a formação de homens ativos e livres,
o corpo passou a ser estudado e investigado num contexto médico-científico
(...) com a finalidade de normalização de condutas
tidas como 'anormais/desviantes', dando origem a uma ciência
que precisava saber tudo sobre o corpo, para poder controlá-lo
melhor no campo da saúde pública (...). Finalmente,
precisou haver uma conceituação do processo curativo
que deveria ser organizado de tal maneira que despertasse a
'culpa' no indivíduo, mantendo-o dentro do universo padrão
exigido pela sociedade" (SIEBERT apud ROMERO, 1995, p.
21).
Além
de evitar a culpa, no caso das mulheres, passa-se a assumir
a feminilidade para ser feliz, a lógica do consumo na
sociedade burguesa cria a cada dia novas necessidades, supostamente
indispensáveis para o alcance da felicidade. Essa é
a origem do que FOUCAULT (1987) chama de corpos dóceis
e úteis, para ele, as sociedades ocidentais desenvolvem
uma "ciência do corpo" na tentativa de estabelecer
a "verdade" sobre o corpo para poder dominá-lo
através da disciplina e, assim, manter a sociedade numa
situação de "normalidade". Essa vigilância,
que se efetiva a partir da relação com a idéia
de punição é internalizada e passa a fazer
parte dos hábitos dos sujeitos, e por que não
dizer, dos habitus.
O
"lar burguês" configurado no século XIX
vai permitir a criação de um padrão de
feminilidade que ainda sobrevive, com a função
principal de promover o casamento entre a mulher e o lar, o
espaço privado. Além disso, "a adequação
entre mulher e o homem, e a produção de uma posição
feminina que sustente a virilidade do homem burguês é
a segunda função da feminilidade nos moldes modernos"
(KEHL, 1998, p. 52).
Então,
a feminilidade que hoje nos parece tradicional, faz parte da
história de constituição do sujeito moderno,
a partir do final do século XVIII e ao longo do XIX.
A educação, a família, o senso comum, e
grande parte da produção científica estabeleciam
normativamente o que era necessário para que cada mulher
fosse verdadeiramente uma mulher. Abordar a construção
histórica dessa tradição que institui uma
"posição feminina" associada às
mulheres é não deixar cair no esquecimento a dimensão
simbólica que nos determina, sob pena de aceitarmos a
naturalização do modo como vivemos.
A
sociedade industrial, também sociedade do consumo, produz
discursos que estão de acordo com o projeto da classe
dominante, a burguesia investe na construção de
um homem que suporte a nova ordem política e econômica.
SIEBERT (apud ROMERO, 1995, p. 23) considera que:
O
projeto burguês era não apenas controlar racionalmente
a saúde, mas, principalmente, a moral das classes subalternas,
domesticando as subjetividades, modificando seu cuidado com
o corpo e seu modo de vida.
Essa domesticação diz respeito às atividades
cotidianas, como alimentação, consumo, sexualidade,
lazer, relacionamento, trabalho. O desejo torna-se necessidade,
criada exatamente para manter a ordem das coisas e sustentar
o sistema capitalista, é a expressão pura e simples
do fetichismo da mercadoria, o corpo é moldado para ser
consumido. É dessa forma que as mulheres assumem um papel
de produtora-consumidora em relação aos corpos.
5.
Conclusões
Terminadas
as análises das reportagens selecionadas do Jornal Hoje,
conclui-se, primeiramente, que as mensagens do telejornal atuam
como reprodutoras simbólicas de mitos relativos à
questão de gênero, num sentido conservador da estrutura
androcêntrica da sociedade brasileira. Entre os principais
mitos observados neste trabalho, estão: a mulher-objeto,
a mulher-esposa, a mulher-mãe, a mulher-dona de casa,
a mulher-pobre, o homem-herói e o mito da igualdade de
oportunidades para homens e mulheres. Esses mitos aparecem,
na maioria dos casos, relacionam-se entre si para conformar
um discurso opressor. A linguagem é, dessa forma, uma
das principais vias de manutenção da ordem sexista.
Cada
um desses mitos pode ser fonte de uma ampla pesquisa para desvelar
a história que eles tratam de esconder. Neste trabalho,
é feita uma abordagem geral de cada um, para mostrar
que eles estão presentes nos falas e imagens que consumimos
diariamente, especialmente através dos meios de comunicação.
Os mitos estabelecem que as atuais relações entre
os gêneros são naturais, imutáveis. Neste
caso, se quisermos mudar a sociedade e as relações
sociais que nela estão imbricadas, temos que agir tanto
na estrutura, na transformação das relações
de produção materiais, quanto nas relações
de produção e reprodução simbólica.
No
caso do jornalismo, os mitos próprios do processo de
produção, relativos à objetividade, neutralidade,
imparcialidade, relacionam-se com a estrutura significante das
mensagens, cedendo-lhes uma aura de "verdade".
A
partir da realização deste trabalho, tive a certeza
de que a história não é uma simples sucessão
de fatos, mas sim um processo dialético através
do qual os sujeitos criam, reproduzem e transformam a sociedade
em todas as dimensões. Isso nos permite deslegitimar
a visão naturalizadora da estrutura de dominação
masculina, assim como as demais formas de dominação.
Os
meios de comunicação não são bons
nem maus por natureza, dependem da lógica de produção
à qual estão submetidos. É fundamental
que os profissionais de comunicação social tenham
consciência disso, para que não assumam posturas
fatalistas nem ingênuas diante das possibilidades que
os media oferecem.
A
partir das considerações realizadas nesta pesquisa,
posso afirmar que a emancipação das mulheres depende
de suas ações em âmbito político,
no sentido de colaborar para a transformação estrutural
da sociedade, e, também, em nível simbólico,
rejeitando sua redução a simples mercadoria com
padrão de qualidade, objeto de seduzir, ou mera procriadora,
defensora da família nuclear burguesa e doméstica
por natureza.
6.
Referências
ADORNO,
T.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de
Janeiro: Zahar, 1986.
ARBEX
JR., J. Showrnalismo: a notícia como espetáculo.
São Paulo: Casa Amarela, 2001.
BAKHTIN,
M. M. Estética da criação verbal. São
Paulo: Ed. Martins Fontes, 1992.
BARBEIRO,
H.; LIMA, P. R. de. Manual de telejornalismo: os segredos da
notícia na TV. São Paulo: Campus, 2002.
BARTHES,
R. Elementos de Semiologia. São Paulo: Cultrix, Editora
da USP, 1971. tradução de Izidoro Blikstein.
____________.
Mitologias. Rio de Janeiro: DIFEL, 2003. Tradução
Rita Buongermino, Pedro de Souza e Rejane Janowitzer.
____________.
O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. Tradução de
Léa Novaes.
BAUDRILLARD,
J. La société de consommation, ses mythes, ses
structures. Paris: Gallimard, 1970.
BERGER,
J. Modos de ver. Coleção Arte e Comunicação.
São Paulo: Martins Fontes, 1972.
BOURDIEU,
P. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2003. 3ª ed.
____________.
Meditações pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand
do Brasil, 2001.
____________.
O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989.
____________.
Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.
Tradução de Maria Lúcia Machado.
BUCCI,
E.; KEHL, M. R. Videologias: ensaios sobre televisão.
São Paulo: Boitempo, 2004.
DEBORD,
G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto,
1997. Tradução de Estela dos Santos Abreu.
DEL
PRIORE, M. (org.) História das mulheres no Brasil. São
Paulo: Contexto, 1997. 2ª ed.
DIEESE,
Boletim. Edição Especial - 8 de março -
Dia Internacional da Mulher. São Paulo, 2004. Disponível
em: <http://nova.abril.com.br/edicoes/373/perguntas/conteudo_50538.shtml>
ENGELS,
F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado;
tradução de Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1995. 13ª ed.
FOUCAULT,
M. Vigiar e punir: Nascimento da prisão. Petrópolis,
RJ: Vozes, 1987.
JOLY,
M. Introdução à análise da imagem.
Campinas: Papirus, 2004. 7ª ed.
JORNAL
HOJE. História do Jorna Hoje. Disponível em: <http://jornalhoje.globo.com/JHoje/0,19125,3065,00.html>
KEHL,
M. R. Deslocamentos do feminino: a mulher freudiana na passagem
para a modernidade. Rio de Janeiro: Imago, 1998.
LAGE,
N. Ideologia e técnica da notícia. 2a ed. Petrópolis,
Vozes, 1982.
MACHADO,
A. A televisão levada a sério. 2ª ed. São
Paulo: Senac, 2001.
MAGARIAN,
D. Boa notícia é pouco! Revista NOVA. Disponível
em: <http://nova.abril.com.br/edicoes/373/perguntas/conteudo_50538.shtml>
MARCONDES
FILHO, C. Televisão: a vida pelo vídeo. São
Paulo: Moderna, 1988.
MARTÍN-BARBERO,
J. Dos meios às mediações: comunicação,
cultura e hegemonia; tradução de Ronaldo Polito
e Sérgio Alcides. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2003.
MESSAGI,
M. Diálogos em monólogo: jornalismo impresso,
linguagem e ideologia. UFPR, Dissertação de Mestrado,
1998.
PEREIRA
JR, A. E. V. Decidindo o que é notícia: os bastidores
do telejornalismo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000.
ROMERO,
E. (org.) Corpo, mulher e sociedade. Campinas, SP: Papirus,
1995.
SANTAELLA,
L.; NÖTH, W. Imagem: cognição, semiótica,
mídia. 3ª ed. São Paulo: Iluminuras, 2001.
SAUSSURE,
F. Curso de Lingüística Geral; tradução
Antônio Chelini, José Paulo Paes e Isidoro Blikstein.
São Paulo: Cultrix, 1971.
SIQUEIRA,
D. A relação palavra-imagem no telejornalismo:
uma análise do Jornal Nacional. UFPR, Monografia, 2003.
WATTS,
H. On câmera: o curso de produção de filme
e vídeo da BBC. São Paulo: Summus, 1990.
*Ana
Sílvia Laurindo da Cruz
é mestranda em Sociologia na Universidade Federal do
Paraná. E-mail: analaurindo@yahoo.com.br.
Voltar
|

