RELATO
"Kane"
Um relato de viagem por
Atílio Avancini*
No
relato a seguir, o professor Atílio Avancini, do Departamento
de Jornalismo e Editoração da ECA-USP (Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo), descreve as cerimômias do 61º aniversário
da bomba de Hiroshima, evento que acompanhou em sua recente
viagem ao Japão onde, entre outras atividades, ministrou
o 1º Workshop de Fotojornalismo para profissionais da
International Press Japan Co.
Kyoto,
verão 2006
Dom,
dom, dom, dom, dom. O sino de bronze (kane em japonês)
reverbera em solene explosão sonora. Cinco pancadas na
superfície externa do cone invertido precisamente às
8h15 da manhã. Realiza-se o Cerimonial da Paz.
Durante a silenciosa oração, as cigarras se permitem
vaiar ruidosamente em forma de si, si, si.
É dia de domingo em Hiroshima, 6 de agosto, céu
azul e um calor de escalpelar. O Parque Memorial da Paz é
o local onde, há exatos 61 anos, a primeira bomba atômica
do mundo explodiu e aniquilou toda a cidade. E sinalizou a entrada
da raça humana à era nuclear.
|
Assisto,
inicialmente, às decla-rações cronometradas
do Primeiro Ministro, do Secretário das Nações
Unidas, do Prefeito e do Governador de Hiroshima.
Depois veio a Dedicação das Flores:
uma multidão paciente deposita ramalhetes diante
da Chama da Paz às almas dos desaparecidos.
|
Fotos:
Atílio Avancini

Fig.
1 O Primeiro Ministro
Koizumi e o Cenotáfio.
|
Olho
os familiares das vítimas inocentes se curvarem com a
cabeça e unirem suas mãos em forma de prece: trabalhadores,
idosos, crianças.
|
Assim,
semeiam o "Espírito de Hiroshima" - cidade-símbolo
da paz mundial. Não
por acaso, o Código de Ética do Japão
antigo floresceu nos Estudos Clássicos de Hiroshima
(século XVII).
A cidade, ainda hoje, continua exercendo uma tradição
edu-cacional. É elegante, moderna, repleta de prédios
altos e árvores frondosas, rodeada por mar e montanha.
|

Fig. 2 A Dedicação
das Flores.
|
O
delta sinuoso e limpo realça a sua beleza geográfica.
O
Museu Memorial da Paz possui um grande vão livre
e a área expositiva se instala em dois blocos, no primeiro
andar e no térreo. O arquiteto K.
Tange,
vencedor de concurso público em 1949, projetou em linha
o Museu, o Cenotáfio (monumento à memória
das vítimas e a Chama da Paz) e o Domo (edifício
com cobertura hemisférica em ruína, projetado
pelo arquiteto checo J. Letzel em 1915). Por engano, entro no
Museu pela porta da saída.
Passo
a tarde ocupado com maquetes, infográficos, fotografias,
vídeos, desenhos, instalações, artefatos,
objetos pessoais, manuscritos. Muita gente se debruça
atônita diante do visível tal qual espelho de memórias.
Os
passos são curtos, o silêncio é incômodo,
os corpos se contorcem no espaço contemplativo e terapêutico
- as obras transcendem objetivos e forjam novas significações.
Desde
já, presencio dois paradoxos: os textos estão
escritos na língua dos frios e calculistas bombardeadores
e o local confortável, como sala de visitas, distoa das
imagens de atrocidades humanas.
Assisto
em vídeo as declarações do único
fotógrafo a produzir cinco cliques do cenário
da cidade após a explosão da bomba. Ele se preparava
para ir ao jornal onde trabalhava. De repente, o mundo ao seu
redor ficou branco e brilhante, como se tivessem disparado um
flash no seu rosto.
Mas
como reage um fotojornalista local, diante de algo tão
desolador e repulsivo, presenciando a morte de irmãos?
M. Yoshito afirma: "Eu tinha sofrido apenas ferimentos
leves causados por estilhaços de vidro. Após 40
minutos peguei minha câmera fotográfica, vesti
uma roupa que achei no meio de escombros e saí para a
rua. Foi como uma visão do inferno. Vi
um bonde queimando.
Dentro
estavam 15 ou 16 passageiros, mortos uns sobre os outros, com
as roupas arrancadas. Meus cabelos arrepiaram e as pernas tremeram.
Caminhei para tirar uma foto. Não consegui, meu coração
estava partido, não pude tirar fotos de corpos mortos.
Havia outros fotógrafos, mas nenhum deles conseguiu fotografar."
|
No
centro da sala, repousa uma chaminé fissurada de
concreto e ferro - um dos poucos objetos que sobrou no
raio de dois quilômetros do hipocentro da bomba.
O
texto de parede informa: depois de meia hora da detonação,
a cidade inteira numa gigante conflagração
consumiu tudo o que era combustível.
|
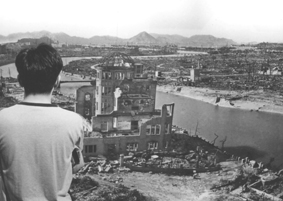
Fig. 3 Imagem da destruição.
|
A
bomba explodiu numa altitude aproximada de 580 metros. Emitiu
três formas de energia: raios quentes, ventos fortes e
radiação. No raio de cinco quilômetros do
hipocentro, o calor atingiu temperaturas de 3 mil a 4 mil graus
Celsius; a rajada de vento soprou a 440 metros por segundo,
criando uma energia física agente de 19 toneladas por
metro quadrado; a radiação residual promovida
pela fissão de 50 quilos de urânio penetrou nas
células humanas.
A
gigante nuvem cinza em forma de cogumelo - imagem culturalmente
estabelecida - carregou muita poeira e com o vapor d'água
do ar gerou uma chuva negra intensa.
O
exato número de baixas ainda permanece desconhecido e
muitas das vítimas nunca foram identificadas. Todavia,
em 1976, a cidade de Hiroshima enviou às Nações
Unidas um documento - A Eliminação de Armas
Nucleares e a Redução de todas as Forças
Armadas e todos os Armamentos -, que estimava em cerca de
140 mil pessoas mortas até o final de 1945.
Há
milhares de ítens na coleção do Museu,
que incluem pertences das vítimas e objetos materiais.
Tais peças falam sem palavras: parece não haver
distância entre o espectador e o referente. Impressiona
os relógios de A. Kawagoe e de K. Nikawa: seus ponteiros
estão encravados nas marcas do VIII e do III. Assusta
o triciclo desfigurado e contorcido do menino S. Tetsutani;
a marmita transformada em bronze, com alimentos petrificados,
do estudante S. Orimen.
Tudo
desliza e ainda derrete nas duas garrafas esverdeadas de vidro,
nas estátuas religiosas de metal, nas tigelas de cerâmicas
azuladas ou nos aglomerados de moedas. Os retratos fotográficos
de algumas vítimas, sem qualquer talento artístico,
são testemunhos impactantes dos efeitos causados pela
radiação: rostos, dentes, costas, cabelos, dedos,
unhas, pés, peles. Acredito numa realidade que posso
conhecer a partir das fotos, mas apenas processada subjetivamente.
O
Museu promove perguntas com respostas. Por que os Estados Unidos
desenvolveram a bomba? Por que decidiram lançar a bomba
no Japão? Por que a bomba foi lançada em Hiroshima?
Mas emerge nas entrelinhas uma pergunta sem resposta. Por que
conquistar a paz mundial é tão difícil
e complexo?
Talvez,
por isso, haja pouca discussão sobre as ocupações
japonesas (parte da Ásia, início do século
XX); o ataque a Pearl Harbour (Havaí, 1941); a rendição
do Imperador Hiroito ouvida no rádio (Tokyo, 14 de agosto
de 1945); a ocupação americana no pós-guerra;
a Constituição do Japão de 1946 (o direito
de voto, o Imperador como símbolo do Estado). A
monarquia japonesa é a mais antiga do mundo. E com a
democracia, o Imperador perdeu os poderes relacionados ao governo
e deixou de ser um líder celestial.
Saio
árido. Tomo um banho japonês no Ryokan (pousada
típica).
|
Bebo
ligeiramente um café com gelo picado.
Em
direção à Hiroshima-Eki (Estação
Ferroviária), ascendo do chão e remonto
ao bonde com ar refrigerado - é como uma brisa
refrescante da Mãe Natureza. Com o balancim, muitos
passageiros sentados sobre o veludo verde se entregam
ao sono.
|

Fig. 4 Pedestres em Hiroshima.
|
Aproximando-se
do fim-de-linha, o condutor se serve do pequeno sino dourado
a bimbalhar: tin, tin, tin.
O
pequeno marcador de tempo - como "bomba-relógio"
- inunda tudo ao redor. Interruptor de sonhos, o agudo orientador
sonoro agride as profundezas desses seres de cultura milenar.
Atordoados, já estão prontos para a próxima.
O
grande foco contemporâneo parece ser a busca material
- não por acaso, o som kane, além de sino,
também significa metal ou dinheiro. O tempo cronometrado
pouco relaxa, pouco folga, pouco afrouxa: o olho, como máquina,
está quase sempre desperto.
Mas
e os anjos dos tempos de paz, onde estariam?
*Atílio
Avancini é professor da ECA/USP.
Voltar
|

