O
documentário e a prática jornalística
Por
Marcia Carvalho*
|
O
que é um documentário jornalístico?
O
documentário é o formato de produção
audiovisual que lida com a verdade, mostra fatos reais
ou não imaginários, o que normalmente chamamos
de "não-ficção". Aborda
um tema ou assunto em profundidade a partir da seleção
de alguns aspectos e representações auditivas
e visuais. Para eleger um tema é preciso pensar
sobre a sua importância história, social,
política, cultural, científica ou econômica.
Além disso, não devemos esquecer que o documentário
pode reconstituir ou analisar assuntos contem-porâneos
de nosso mundo histórico vistos por uma perspectiva
crítica.
|
Reprodução
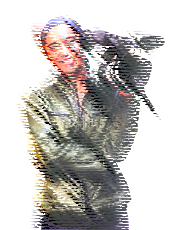
|
O
que possibilita desenvolver temas mais corriqueiros ou cotidianos,
geralmente tratados por reportagens diárias ou semanais
pelas mídias impressa, radiofônica e televisiva.
Nesse
sentido, o documentário pode apresentar diferentes histórias
ou argumentos, evocações ou descrições
abrindo um espaço de reflexão sobre os principais
acontecimentos do Brasil e do mundo, investigando as relações
sociais e a realidade de diferentes países e culturas.
A
maioria dos temas que consideramos comuns na produção
de documentários para o cinema ou para a televisão
são as histórias das guerras; biografias (principalmente
de personalidades da cultura e da política); reflexões
sobre novos comportamentos, sobre a violência ou a sexualidade;
ou ainda, a exploração do mundo animal; dos avanços
científicos e das crises ambientais.
O
documentário tem raízes históricas no cinema,
e pode apresentar diferentes "modos" de produção
conforme os diferentes momentos históricos na evolução
de uma forma, tal como foi exposto por Bill Nichols (2005) a
partir da premissa de que o documentário não é
uma "reprodução", mas sim uma "representação"
de algum aspecto do mundo histórico e social do qual
compartilhamos. Esta representação é criada
na forma de um argumento sobre o mundo, o que pressupõe
uma perspectiva, um ponto de vista, ou seja, uma maneira de
organizar o material que irá compor o filme ou vídeo.
Assim,
podemos constatar que o rótulo do documentário
é usado para classificar uma grande diversidade de filmes
e vídeos, representantes de uma variedade de métodos,
tendências, estilos e técnicas.
O
documentário, portanto, coloca em questão o problema
do universo de referência e as diferentes modalidades
discursivas, podendo utilizar as mais diversas técnicas,
tais como o filme ou vídeo de montagem, o cinema direto,
reportagem, atualidades, uma produção didático-educativa
ou até um filme caseiro feito com uma câmera de
celular.
Dessa
maneira, a evolução da história das formas,
técnicas e tecnologia empregada para a produção
de documentários deve sempre ser analisada em relação
ao seu contexto histórico (sua época) e as suas
articulações com outras produções
audiovisuais contemporâneas ou não, de mesma nacionalidade
ou não.
Também
vale lembrar que desde a sua invenção, o cinema
esteve associado ao jornalismo, divulgando atualidades com os
"cines-jornais" (prática comum anterior a invenção
do videoteipe). Ou mesmo, que nos EUA jornalistas interessados
em agilizar os métodos de trabalho da reportagem desenvolveram
técnicas do Cinema Direto (expressão que surgiu
no início dos anos 60, definidora da técnica de
filmagem que se tornou opção estética).
Nada
obstante, o jornal e o cinema brasileiros sempre foram influenciados
pelo modelo narrativo do jornal e do cinema americano, no cinema
com o padrão narrativo de Hollywood e, no jornalismo
com o modelo americano dominante de apresentação
da notícia.
De
fato, o jornalismo não é somente tema e personagem
para o cinema, pois as mediações jornalísticas
resistem até hoje com a produção de alguns
documentários. Entretanto, existe um discurso contra
a produção jornalística deste formato calcado
na crítica de uma série de produções
voltadas para a televisão que abusam de um discurso frio
que se anuncia informativo e de temáticas recorrentes
sem o risco de um "tratamento criativo", da poesia,
do engajamento político e uma expressão pessoal.
São
produções padronizadas, que seguem a formatação
consagrada da reportagem em que se expõe um assunto ou
fato alternando sonoras e imagens ilustrativas bem amarradas
por uma voz narradora.
Mas
quem disse que para produzir um documentário jornalístico
é preciso ser sisudo e abolir um tratamento criativo
para se construir um diálogo com o público? Como
não levar em conta a possibilidade de um trabalho poético
com o som e com as imagens no jornalismo televisivo ou audiovisual?
Por que associar a idéia de expressão pessoal
ou de engajamento político com a perda da informação,
da ética e da credibilidade?
Sabemos,
que o principal objetivo de todo documentário jornalístico
é buscar o máximo de informações
sobre um determinado tema através de entrevistas, uma
narração informativa em off, captação
de imagens ilustrativas, montagens de material de arquivo, e
de uma edição formadora do discurso ou da abordagem
sobre um assunto em profundidade, cercando todos os seus ângulos.
No
entanto, o documentário pode apresentar muitos outros
formatos dentro dele com o objetivo de não torná-lo
cansativo e apresentar de forma variada as informações
colhidas de várias fontes. São exemplos o uso
de clipes, debates, narrações opinativas e interpretativas,
encenações, gráficos e tabelas, edição
de outras reportagens da televisão, etc.
Diferente
da produção voltada para o cinema, para as produtoras
internacionais e brasileiras, o documentário realizado
para a televisão possui em média trinta minutos.
Na televisão, o documentário está associado
à idéia de uma "programação
de qualidade" e, talvez por isso, tenha espaço garantido
na grade de programação da TV a cabo, com canais
específicos que apostam neste formato tais como Discovery
e History, além de séries consagradas tais
como a Biography ou a produção da BBC.
No
sinal aberto brasileiro, destaca-se a parceria da TV Cultura
com a BBC, e o espaço que esta emissora educativa
abre para as produções brasileiras de documentários
realizados para cinema e vídeo. Na TV Globo, pode-se
lembrar o Globo Repórter, que estreou em 1971
com o nome de "Globo Shell Especial",
e que nos anos 70, contou com a colaboração de
vários cineastas brasileiros, como Eduardo Coutinho,
Maurice Capovilla, Walter Lima Júnior, Vladimir Carvalho,
entre outros.
Os
documentários produzidos por eles focalizaram muitos
aspectos da sociedade brasileira, e hoje são considerados
clássicos do gênero documental no Brasil. Entretanto,
atualmente, o Globo Repórter tem um formato diferente,
com assuntos menos polêmicos.
Novas
práticas jornalísticas
Nos
dias de hoje podemos perceber uma revitalização
na produção de documentários para cinema
e para televisão. No entanto, há uma diversidade
muito grande de tendências e estilos que nos fazem, muitas
vezes, questionar sobre quais destes documentários vistos
no cinema e na televisão são efetivamente documentários
jornalísticos.
Um
exemplo instigante é o trabalho do documentarista Michael
Moore, que aos vinte e dois anos fundou "A voz de Flint",
em sua cidade natal, um dos mais respeitados jornais alternativos
dos EUA durante dez anos. Ele já trabalhou na TV, e ganhou
reconhecimento com seus documentários para o cinema.
O seu trabalho apresenta um tratamento criativo calcado em mediações
jornalísticas, com base na investigação,
na realização de entrevistas, na pesquisa de várias
fontes e materiais de arquivo.
Muitas
vezes acreditamos que os problemas de redução
de pessoal nas grandes empresas, das linhas de produção
globalizadas e do fechamento de industrias são problemas
banalizados e redundantes da atual conjuntura política
e econômica presente de maneira insistente na cobertura
jornalística do cotidiano.
Mas
o filme Roger e eu (1989) de Michael Moore oferece-nos
um novo ponto de vista sobre este tema. Também com a
imposição de um ponto de vista, declaradamente
"anti-Bush", o cineasta investiga a violência
particular de dois jovens que resolveram se armar até
os dentes e tramar um massacre em sua escola em Tiros em
Columbine (2002), e sobre a tragédia estopim para
"Guerra contra o terrorismo" em Fahrenheit 11/9
(2003).
Estes
filmes citados evidenciam o estilo participativo do documentarista.
Michael Moore utiliza encenações (desenho sobre
a História dos EUA como uma História do Medo),
montagens de materiais de arquivo com reportagens da cobertura
sobre o tema na televisão (tanto sobre a tragédia
em Columbine como na destruição das torres gêmeas),
vídeos promocionais/ institucionais, etc. Usa novas técnicas
de edição com uma dinâmica e humor bastante
particulares, com uma relação direta entre cineasta
e tema.
Também
mostra fotos, gráficos e gravuras, e tem a ousadia de
selecionar uma trilha musical que comenta a sua edição
de imagens a partir do contraste entre o que está sendo
dito na canção e o que está sendo mostrado
nas imagens, tal como na seqüência em que ouvimos
"What wonderful World" e vemos algumas imagens de
massacre, violência e morte praticados por vários
países ao longo da história mundial em Tiros
em Columbine.
Trata-se
de um cineasta engajado que não constrói um discurso
ou uma abordagem fria sobre o tema que elege para investigar
em profundidade. Por isso, tece comentários, assume a
narração impondo a sua voz, confronta e persegue
entrevistados em frente da câmera, buscando sempre investigar
os fatos através da máxima de "ouvir os dois
lados", desafiando o seu próprio tema. Ele explicita
os seus métodos e as suas hipóteses, narra as
suas impressões e a conquista de novos dados, novas fontes.
Não
se intimida em entrevistar os estudantes da escola de Columbine,
Marlyn Manson, ou os deputados que são a favor da guerra,
mas não enviam os seus próprios filhos para lá.
Com isso, Moore defende o seu ponto de vista ao apresentar argumentos
e pesquisa com entrevistas, depoimentos, materiais de arquivo
(vídeo, reportagens de TV) e captação de
imagens com a sua presença indiscreta constante.
O
resultado de seu trabalho inquieta o espectador principalmente
devido ao seu estilo de narração e edição
permeada por um humor afiado. Muitas vezes, podemos dizer que
Michael Moore parece um repórter investigativo que extrapola
o seu envolvimento pessoal com o tema. Visto que os seus documentários
apresentam um perfil auto-reflexivo e participativo, mas que
não deixa de expor os fatos e investigar os temas com
uma lógica argumentativa, assumindo de maneira forte
e direta a sua função de narrador que conta uma
história.
Outro exemplo, com estilo próximo ao de Michael Moore,
e que também conta com a sua participação
como depoente, é o filme A corporação
(2004) dos cineastas canadenses Mark Achbar e Jennifer Abbott,
com roteiro do autor do livro homônimo Joel Bakan. Este
documentário investiga as práticas éticas
e sociais que visam o lucro indiscriminado de grandes empresas,
com uma narração e edição dinâmica
bem arquitetada com a tecnologia digital, além de apresentar
um humor apurado e também bastante crítico.
A
voz do documentário parece defender uma causa, construindo
argumentos lógicos a partir de um ponto de vista. Este
discurso ou abordagem é elaborado com a confecção
de várias entrevistas com acadêmicos, executivos,
jornalistas, e uma pesquisa sobre a cobertura jornalística
destas práticas das corporações com reportagens
de TV, além de vídeos institucionais (das próprias
empresas investigadas) que nos são apresentados por uma
rara voz narradora feminina, que tece comentário, mas
também é expositiva e informativa.
Tanto
Michael Moore como estes diretores canadenses conseguem mostrar
um importante engajamento político em tempos de apatia,
com expressão e humor pessoais, sem perder a credibilidade
e a Ética. Trata-se de uma prática da provocação
e do debate por meio de uma abordagem de perspectiva crítica
e informativa, bastante diferenciada da pasmaceira reiterada
da prática do documentário jornalístico
televisual.
Estes
filmes prometem informação e conhecimento, descoberta
e consciência, questionando o nosso engajamento político
diante do mundo histórico representado. O que ganha expressão
é o ponto de vista pessoal do cineasta através
da entrevista que se torna o ponto de encontro entre cineasta
e tema.
O que faz disso um documentário jornalístico é
que esta visão particular continua ligada às representações
sobre o mundo social e histórico dirigido aos espectadores,
tal como na perspectiva do "novo jornalismo" (tendência
que narra fatos verídicos com recursos da ficção).
Há um confronto reflexivo sobre o tema abordado, os temas
não são exatos ou conclusivos, e sim imprecisos
e questionáveis. Ou seja, em sintonia com a realidade
que desbravamos em nosso dia-a-dia.
Mas
afinal, será que estes filmes são exemplos de
uma nova prática do jornalismo no cinema? O que é
preciso para se fazer um bom e respeitável documentário
jornalístico?
Antes
de procurar as respostas para estas questões, desconfie
de fórmulas prontas, padrões e formatos consagrados.
Hoje percebemos que falta ao jornalista ativar a sua percepção
estética e sua consciência social, sem negociação
e consentimento com as instituições e com o público,
em busca de uma perspectiva informativa sobre o mundo em que
vivemos.
Parece
que o segredo para uma nova prática do jornalismo audiovisual
está em saber ouvir, desenvolver uma análise crítica
sobre os fatos e resgatar o espírito investigativo, que
permita contar uma história, que mereça ser contada,
confrontando o tema, as fontes e o próprio jornalista.
E com isso, quem sabe, despertar paixões, ódios
e debates, tais como os diálogos e a importante função
de narrar uma história com vigor presentes nos documentários
de Michael Moore.
Afinal,
um jornalismo que não é provocativo está
fadado ao esquecimento.
Referências
bibliográficas
AMADO,
Ana. "Michael Moore e uma narrativa do mal". In: MOURÃO,
Maria Dora e LABAKI, Amir. O cinema do real. São
Paulo: Cosac Naify, 2005, pp. 216-233.
DA-RIN,
Silvio. Espelho partido: tradição e transformação
do documentário. Rio de Janeiro: Azougue, 2004.
KOTSCHO,
Ricardo. A prática da reportagem. São Paulo:
Ática, 1995.
LAGE,
Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista
e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record,
2001.
____________.
A estrutura da notícia. São Paulo: Ática,
2004.
NICHOLS,
Bill. Introdução ao documentário. Campinas:
Papirus, 2005.
RAMOS,
Fernão. "O que é documentário?".
In: Estudos Socine de cinema. Porto Alegre: Sulina, 2001,
pp. 192-206.
______________.(org.)
Teoria Contemporânea de Cinema: Documentário
e narratividade ficcional. Vol. II. São Paulo: Senac,
2005.
SENRA,
Stella. "Cinema e jornalismo". In: XAVIER, Ismail.
O cinema no século. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
WINSTON,
Brian. "A maldição do 'jornalístico'
na era digital". In: MOURÃO, Maria Dora e LABAKI,
Amir. O cinema do real. São Paulo: Cosac Naify,
2005, pp. 14-25.
WOLF,
Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa:
Presença, 2002.
*Marcia
Carvalho é Radialista formada pela UNESP, Mestre em Comunicação
e Estéticas Audiovisuais pela ECA-USP, e doutoranda em
Multimeios na UNICAMP. É professora do curso de Comunicação
Social, habilitações em Jornalismo e Radialismo,
na Universidade Cruzeiro do Sul.
Voltar
|

