A
crônica no jornal impresso brasileiro
Por Érica Michelline Cavalcante Neiva*
Resumo
Este
ensaio discorre, inicialmente, sobre a etimologia da crônica,
ligada à concepção de tempo. O sentido
cronológico é considerado essencial para esta
narrativa enquanto relato histórico. Sentido tal, que
podemos constatar na Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada
o marco inicial da crônica no Brasil, de acordo com alguns
estudiosos da história e da literatura. A importância
deste estudo, entretanto, dá-se a partir do século
XIX, quando a narrativa cronística passou a habitar as
páginas dos jornais impressos, ampliando seu sentido
temporal para constituir-se num gênero narrativo possuidor
de uma autonomia estético-estilística, principalmente,
com o escritor-jornalista, Machado de Assis. Já no século
XX, a imprensa viveu um período de intensa modernização.
A crônica, por sua vez, firmou-se ainda mais como um texto
com enormes possibilidades significativas, temáticas
e lingüísticas.
Palavras-chave
Etimologia
da Crônica / Jornais Impressos / Autonomia Estético-Estilística
/ Possibilidades Significativas
Abstract
This
assay discourses, initially, on the etymology of the chronicle,
on to the conception of time. The chronological direction is
considered essential for this narrative while historical story.
Felt such, that we can evidence in the Letter of Pero Vaz de
Caminha, considered the initial landmark of the chronicle in
Brazil, in accordance with some scholars of history and literature.
The importance of this study, however, is given from century
XIX, when the chronicled narrative started to inhabit the pages
of periodicals printed matters, extending its secular direction
to consist in a possessing narrative sort of an aesthetic- stylistic
autonomy, mainly, with the writer-journalist, Machado de Assis.
No longer century XX, the press lived a period of intense modernization.
The chronicle, in turn, was firmed still more as a text with
enormous significant, thematic and linguistic possibilities.
Words-key
Etymology
of the Chronicle / Periodicals Printed Matters / Aesthetic-Stylistic
Autonomy / Significant Possibilities.
Impressões
pessoais sobre o mundo. Quantos de nós divagamos sobre
as pequenas coisas do dia-a-dia? Muitas das quais não
aparecem estampadas nas manchetes dos jornais, revistas ou programas
televisuais. São estes pequenos acontecimentos tão
particulares - detalhes da nossa infância; reflexões
filosóficas ou metafísicas sobre a vida, sobre
os acontecimentos noticiados ou mesmo o efeito em nós
de uma brisa suave numa tarde de domingo - motivadores de um
texto, localizado nos periódicos, que para muitos teóricos
é considerado ambíguo (misto de referencialidade
jornalística e narração literária),
mas que se estudado detalhadamente apresenta autonomia estética,
semântica e enorme abrangência temática,
a crônica. "Onde cabem as pequenas coisas do cotidiano?
Como registrar a historia nossa de cada dia, não necessariamente
a História? Como tornar o eterno instantâneo? Como
captar a conversa fiada, os pequenos sentimentos, as coisinhas,
nossas ou alheias?" (BENDER e LAURITO, p. 43).
1.1.
Uma história das primeiras crônicas
|
Mas,
nem sempre a crônica significou um texto com autonomia
estética, ou seja, um texto com grande potencial
discursivo vei-culado num jornal.
A
sua origem é muito anterior a Gutenberg e, consequentemente,
à imprensa. Ela
remonta à narração de fatos históricos,
segundo uma ordem cronológica, que se iniciou na
Idade Média, tendo como um dos seus principais
expoentes o cronista medie-val português, Fernão
Lopes, considerado o grande mestre da arte de narrar.
Como
cronista-mor do Reino, em 1434, foi-lhe conferida a missão
de escrever a História de Portugal.
|
Arquivo
Nac. da Torre do Tombo
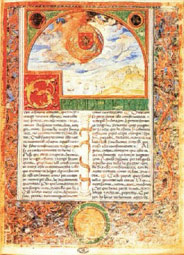
Primeira página
da Crónica de
D. João I, de Fernão Lopes.
|
Seja
na sua acepção atual, moderna ou no sentido de
relato de fatos históricos, a palavra crônica está,
intrinsecamente, ligada à noção de tempo,
a começar pelo seu significado etimológico definido
por Massaud Moisés, "Do grego Chronikós,
relativo a tempo (chrónos), pelo latim chronica, o vocábulo
"crônica" designava, no início da era
cristã, uma lista ou relação de acontecimentos
ordenados segundo a marcha do tempo, isto é, em seqüência
cronológica" [grifo do autor] (MOISÉS, p.
245).
A
primeira crônica com sentido de narração
histórica, no Brasil, foi a Carta de Pero Vaz de Caminha,
o escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral,
relatou ao rei D. Manuel os detalhes da chegada ao Brasil em
1500.
|
IAN/Torre
do Tombo

Fólio da
Carta de Pero Vaz de Caminha a D. Manuel sobre a Descoberta
do Brasil, 1500.
|
A
observação direta do narrador é
fundamental para dar relevo à dimensão
temporal do registro e à sua veracidade. Caminha
comportou-se como um cronista do dia-a-dia ao recriar
e redimensionar os fatos concernentes à paisa-gem
brasileira, à cultura e aos costumes indígenas,
imprimindo-lhes sua visão particular, sua opinião:
(...)
a observação direta é o ponto de
partida para que o narrador possa registrar os fatos
de tal maneira que mesmo os mais efêmeros ganhem
uma certa concretude. Essa concretude lhes assegura
a permanência, impedindo que caiam no esquecimento
(...)" (SÁ, p. 6). Além
de Caminha, outros cronistas portugueses noticiaram
aos europeus o aspecto exótico e as possibilidades
de exploração das terras brasileiras.
|
Entre
eles estiveram Pero Lopes de Souza, Pero de Magalhães
Gândavo e Gabriel Soares de Souza. Paralelamente a essa
chamada crônica leiga, isto é, a crônica
que narra os aspectos gerais dos novos territórios, existe
a crônica dos missionários e religiosos, sobretudo
a dos jesuítas, como Manuel da Nóbrega, Fernão
Cardim e José de Anchieta, que tem como finalidade principal
documentar os passos da catequese indígena.
Todos
estes textos produzidos, mesmo que não sejam explicitamente
designados, são crônicas, no sentido histórico
da palavra, e antecipam a existência de uma historiografia
nacional (BENDER e LAURITO, pp. 13-14). A produção
dos cronistas foi legitimada pela literatura que a recolheu
como representativa da expressão de uma determinada época,
o que na visão de muitos estudiosos, denominou-se uma
literatura de informação sobre o novo mundo.
Nesta
primeira concepção de crônica, percebemos
que os fatos narrados sempre estão vinculados ao aspecto
cronológico, ou seja, os primeiros cronistas portugueses
no Brasil preocuparam-se com a observação e registro
dos fatos relacionados com o presente, com a atualidade vivida.
Portanto, o tempo é um fator que acompanha não
apenas a etimologia da crônica, mas continua a perpetuar-se
em todas as suas definições, conforme afirma Davi
Jr. Arrigucci:
São
vários os significados da palavra crônica. Todos,
porém, implicam a noção de tempo, presente
no próprio termo, que procede do grego chronos. Um
leitor atual pode não se dar conta desse vínculo
de origem que faz dela uma forma do tempo e da memória,
um meio de representação temporal dos eventos
passados, um registro da vida escoada. Mas a crônica
sempre tece a continuidade do gesto humano na tela do tempo
[grifo do autor]. (ARRIGUCCI, p. 51).
À
medida que a crônica ganhou o seu espaço no jornal
impresso, sobretudo, com os textos de Machado de Assis, no século
XIX, o fator tempo passou a não ser tão fundamental.
O aspecto cronológico cedeu caminho às inúmeras
possibilidades de significados da crônica, à sua
abrangência temática e lingüística.
1.2.
Além dos limites jornalísticos ou literários
O
conceito de crônica, a partir do século XIX, contudo,
ampliou-se. À medida que ela deixou de vincular-se apenas
a um tempo historicamente determinado e à narração
sucessiva de fatos. De acordo com José Marques de Melo,
"Da História e da Literatura, a crônica passa
ao jornalismo, sendo um gênero cultivado pelos escritores
que ocupam as colunas da imprensa diária e periódica
para relatar os acontecimentos pessoais". (MELO, p. 141).
A
crônica passou, então, a ser vista como integrante
do jornal, um suporte que lhe conferiu novas características.
O
cronista deste período histórico preocupou-se
menos em relatar fatos presos a um tempo rígido e passou
a compor um cenário onde a razão cedeu lugar à
imaginação. Com o advento do Romantismo, a crônica
passou a ser concebida como sinônimo de gênero literário,
mantendo inter-relações com a prosa ou a poesia.
Essa dependência da narrativa cronística aos gêneros
literários, assim como a utilização de
uma linguagem rebuscada pelos cronistas, limitou o aspecto de
renovação lingüística que a crônica
poderia trazer para o espaço jornalístico e, conseqüentemente,
a conquista da sua liberdade estética que surgiu com
o final do Romantismo, como assinala Wellington Pereira:
Depois
do Romantismo, a crônica não se legitima apenas
dentro de uma tradição da narrativa (...). O
cronista estabelece novos processos de enunciação,
ultrapassa os limites impostos pela conotação,
procurando transformar o exercício da crônica
num espaço textual que absorve, criticamente, várias
linguagens. Neste sentido, a crônica não se define
apenas a partir do grau de literariedade nem do referencial
jornalístico: torna-se a possibilidade de leitura dos
níveis lingüísticos passíveis de
uma reconstrução no interior do jornal. (PEREIRA,
pp. 30-31)
A
crônica começou a ilustrar as incertezas, angústias
e as inquietações do homem num ambiente urbano
que refletia os sintomas de uma sociedade capitalista, seduzida
pelo consumo e pela fugacidade da vida moderna.
Diante
desse quadro, o cronista utilizou-se de outros recursos estéticos
que passaram a traduzir as relações sociais fragmentadas
deste século na produção cronística:
"(...) tornando-se, pela elaboração da linguagem,
pela complexidade interna, pela penetração psicológica
e social, pela força poética ou pelo humor, uma
forma de meandros sutis de nossa realidade (...)" (ARRIGUCCI,
p. 53). Estes elementos citados pelo autor nos mostra o caráter
heterogêneo da crônica, seja por meio da sua linguagem,
da utilização de recursos estilísticos
ou mesmo pela amplitude de leitura que ela nos permite fazer
da realidade.
A
crônica no jornal impresso tem várias formas lingüísticas
que podem estar no plano da denotação, quando
o cronista produz seu texto reelaborando notícias ou
podem expressar significados de conotação, aproximando-se
da ficção. Portanto, o que define a crônica
no jornal é a sua capacidade de compreender várias
expressões estéticas, como a linguagem cinematográfica,
poética, radiofônica, sem reduzir-se apenas à
literatura (PEREIRA, p. 28).
Percebemos,
então, que é fundamental analisarmos a crônica
no espaço jornalístico, pois, a partir deste espaço,
ela ampliou seus significados denotativos ou conotativos, rompendo
barreiras estéticas impostas pela linguagem literária
ou jornalística.
A
preocupação de alguns autores em comparar a crônica
a alguma manifestação literária - poesia
ou prosa - acaba por tornar o cronista dependente de preceitos
literários, podando sua liberdade estética ao
construir seu texto. Massaud Moisés, por exemplo, declara
que "A crônica literária oscila, por conseguinte,
entre a poesia e o conto (...) enquanto poesia, a crônica
explora a temática do "eu", resulta de o "eu"
ser o assunto e o narrador a um só tempo, precisamente
como todo ato poético" [grifo do autor] (MOISÉS,
p. 251). O autor não faz uma leitura da crônica
como um texto que possui autonomia semântica, estética
ou lingüística, mas prefere negar-lhe sua independência,
tornando-a subordinada à literatura.
Ao
situar a crônica numa área intermediária
entre dois gêneros literários, o autor afirma sua
dependência discursiva, não enxergando a autonomia
do texto frente às enormes possibilidades lingüísticas
e, conseqüentemente, às inúmeras leituras
que se pode extrair da crônica no interior do jornal.
Mesmo ela não sendo poesia, ao contrário do que
declara o autor, uma vez que a função poética
pode estar presente no texto, assim como vários outros
elementos estético-estilísticos, mas isso não
significa dizer que o texto cronístico possa ser uma
poesia, uma vez que ele constitui-se num gênero narrativo
independente.
Ainda
na compreensão de Massaud Moisés, a crônica
pode ser classificada como um gênero ambíguo, transitório
entre a literatura e o jornalismo, "A crônica oscila,
pois, entre a reportagem e a Literatura (...)" (MOISÉS,
p. 247). Essa classificação também nos
parece sinônimo de uma dependência da crônica
à estrutura jornalística e literária. Com
relação ao jornalismo, podemos dizer que a narrativa
cronística contém características inerentes
aos periódicos.
Mas,
a sua amplitude lingüística consegue ultrapassar
a referencialidade a que os textos jornalísticos estão
submetidos.
Dessa
forma, a crônica se constitui num discurso aberto a vários
significados e inúmeras possibilidades de construção.
Essa amplitude semântica, entretanto, muitas vezes não
é produzida pelos demais discursos que encontramos ao
longo do periódico, os quais são dependentes de
normas técnico-linguísticas fixas na organização
das informações.
O
fato de o jornal ser o suporte de inserção da
crônica, num primeiro momento, já cria por si só
um elo entre os dois gêneros. Embora estudiosos do jornalismo
considerem a crônica um gênero jornalístico
opinativo, a riqueza temática e as inúmeras possibilidades
conotativas e denotativas da narrativa cronística ultrapassam
o mero sentido de opinião. A função referencial
da linguagem que predomina no jornalismo é apenas uma
das funções lingüísticas que podemos
observar na crônica, a qual perpassa a função
poética, expressiva, metalingüística, entre
outras.
A
riqueza estilística e semântica do conceito de
crônica confere-lhe uma independência frente aos
gêneros literários ou jornalísticos e ao
espaço que ocupa no jornal impresso. Essa independência
talvez seja o aspecto diferencial entre a crônica e o
folhetim do século XIX.
1.2.1.
A crônica conquistou autonomia no rodapé dos jornais
Bazar
asiático, miscelânea de assuntos. Essa foi a definição
do folhetim do século XIX para o escritor e folhetinista
José de Alencar. Folhetim, inicialmente, era a denominação
de qualquer seção de jornal, na qual publicavam-se
desde ensaios a críticas literárias. Com o Romantismo,
ele passou a representar uma fórmula literária
presa à massificação da cultura, utilizado
pela burguesia, classe que também se constituiu como
principal público consumidor e o utilizava como uma forma
de crítica à cultura aristocrática. Aprecia
no rodapé dos jornais, onde eram publicados artigos,
críticas literárias ou resenhas.
As
crônicas, por sua vez, também eram publicadas no
rodapé dos periódicos, o que provoca uma certa
confusão entre muitos estudiosos ou escritores que a
realizam, "Mas alguns estudiosos ou mesmo os escritores
que a praticavam confundem-na, ainda mais, com o espaço
jornalístico, passando a denominá-la, também,
folhetim, pelo simples fato de ambos serem publicados em rodapés"
(PEREIRA, p.33). O folhetim, ao contrário da crônica,
não possuía autonomia nem maturidade estética,
isto é, discursiva; as idéias contidas nos seus
textos representavam a posição intermediária
que ele ocupava entre a literariedade e a referência jornalística,
fato que não ocorria com a crônica, por esta apresentar
grande riqueza lingüística e temática.
O
folhetim ganhou uma certa autonomia no espaço jornalístico,
a partir dos anos trinta do século XIX, quando passou
a contar com textos de escritores estreantes.
|
Reprodução

Raul Pompéia (1863-1895).
|
Esse
espaço em que, inicialmente, os escritores noticiavam
variedades, ou seja, escreviam sobre todos os tipos
de assuntos de forma fragmen-tada ou inacabada, fossem
eles literários ou não, acabou sendo uma
possibilidade para a prática dos futuros romances
brasileiros, pois estes antes de serem publicados em
livros apareciam, paulatinamente, no rodapé dos
jornais.
Entre
vários destes romances podemos citar alguns como:
O guarani, de José de Alencar; Memórias
de um sargento de milícias, de Manuel Antônio
de Almeida e O Ateneu de Raul Pompéia.
|
Neste
caso, o folhetim foi fundamental para propagar as obras literárias
de diversos escritores, uma vez que nem todos os livros poderiam
ser publicados, devido ao alto custo da impressão, que
só era feita no exterior.
A
narrativa dos folhetins nem sempre aproximou a realidade do
público leitor, pois o seu objetivo primordial era servir
aos interesses da burguesia que considerava esse espaço
uma mercadoria que deveria ser vendida ao maior número
possível de leitores, "O movimento de massificação
da cultura começa com o folhetim oferecido pelos editores
de jornais, a preços baixos, para o grande público"
(ARNT, p. 23). Contudo, o seu público leitor foi basicamente
a burguesia que também estava à frente desses
jornais, imprimindo-lhes seus interesses políticos e
comerciais.
O
folhetim, ao contrário da crônica, não perdeu
seu caráter lítero-jornalístico, pois dependia
dessas duas áreas e não possuía autonomia
no próprio jornal. Ele não trouxe inovações
lingüísticas e discursivas dentro do contexto do
periódico, para que pudesse conseguir uma independência
estética, seu objetivo primordial passou a ser apenas
conseguir o status de romance. Devido à variedade de
assuntos que constava no folhetim, qualquer texto que, naquela
época, não preenchesse as exigências jornalísticas
era publicado no espaço folhetinesco. Por isso, o conto,
a crônica, a novela e o romance eram considerados folhetins,
uma vez que ocuparam o rodapé dos jornais.
Embora
vários autores usem o termo crônica como sinônimo
de folhetim, "A princípio, no século XIX,
chamavam-se as crônicas "folhetins" (...)"
[grifo do autor] (COUTINHO, p. 109), podemos observar que há
diferenças entre eles de ordem semântica e estilística,
pois a crônica, que também na época ocupou
o rodapé dos jornais, buscou imprimir inovações
lingüísticas, discursivas e uma riqueza de significações
conotativas e denotativas no conteúdo dos seus textos,
ao contrário do folhetim, que manteve uma intensa relação
com o jornalismo e a literatura, não conseguindo construir
uma linguagem própria que garantisse a sua autonomia
estética, conforme declara Wellington Pereira:
A
diferença entre crônica e folhetim não
se resume apenas a uma questão semântica, mas
se estabelece na relação que ambos mantêm
com o espaço jornalístico. Neste sentido, a
crônica marca uma certa evolução estético-semântica,
através das diversas linguagens que o cronista incorpora
ao seu texto. O folhetim, ao contrário, permanece marcado
pela referencialidade do texto jornalístico ou pelo
grau de literariedade, quando assume as características
do romance ou até mesmo da opinião jornalística.
(PEREIRA, p. 40).
Dito
isto; embora o folhetim não conseguisse uma autonomia
estética dentro do jornal, podemos afirmar que ele representou
um importante espaço para a veiculação
de aspectos literários, econômicos e políticos.
Ele, assim como a crônica, consiste em certos momentos
numa importante fonte de pesquisa para a história sobre
a sociedade do século XIX, fonte tal que foi escrita,
sobretudo, pelos chamados escritores-jornalistas, "Críticos
da sociedade de sua época, os escritores/jornalistas,
através de todos os gêneros a que se dedicaram,
deixaram uma análise sutil sobre usos e costumes, que
servem de material de estudo para historiadores e pesquisadores"
(ARNT, p. 24). Além disso, não devemos nos esquecer
que os folhetins originaram os primeiros romances brasileiros.
1.2.2.
Escritores-jornalistas ingressaram na imprensa
A
imprensa brasileira do século XIX possuía um caráter
artesanal. Ao contrário da imprensa européia que,
nesse período, estava em vias de modernização,
aqui, os jornais foram criados para garantir o poderio econômico
e político de determinados grupos. Somente no final do
século XIX, essa imprensa começou a adquirir características
de empresa, onde a informação passou a ser sinônimo
de mercadoria, tornando o conteúdo jornalístico
um propagador dos ideais econômicos, políticos
e sociais burgueses.
|
Contudo,
o espaço do jornal não conseguia uma independência
lingüística, pois nele predominava um discurso
de teor político, literário e bacharelesco
- resultante da atuação na im-prensa de
inúmeros advogados e literatos.
A
imprensa passou a ser tomada por um grande número
de escritores estreantes que se dedicaram à tarefa
de escrever nos folhetins: Joaquim Manuel de Macedo, José
de Alencar, Machado de Assis, França Júnior,
Aluísio Azevedo, Artur Azevedo, Raul Pompéia
e Olavo Bilac, entre outros.
|
Reprodução

Joaquim Manuel de Macedo
(1820-1882).
|
Para Nelson Werneck Sodré, "Os homens de letras
buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no
livro: notoriedade, em primeiro lugar; um pouco de dinheiro,
se possível" (SODRÉ, p. 292).
Se
buscavam, ou não, notoriedade ou prestígio, não
nos cabe analisar.
Contudo,
esses escritores encontraram no jornal um meio de se profissionalizarem
e também buscarem uma oportunidade para publicarem seus
romances nos rodapés dos impressos e quem sabe, posteriormente,
terem a chance de transformá-los em livros. Para Wellington
Pereira, a utilização da literatura como linguagem
atende a três aspectos:
a)
o jornal significa o único meio de profissionalização
dos literatos; b) as manifestações artísticas
tinham no jornal diário um laboratório para
o reconhecimento de sua maturidade estética; c) havia
um pequeno número de leitores (...). Estes leitores
representavam um novo espaço para o lucro, como também
o consumo de bens culturais. (PEREIRA, p. 66).
Os
jornais, sem dúvida, representaram não apenas
a sobrevivência de muitos literatos, mas também
eram uma oportunidade para que eles pudessem desenvolver seus
talentos artísticos que atingiam o ponto máximo
quando conseguiam publicar seus romances. Esse espaço
destinado à literatura nos jornais foi uma reivindicação
do público leitor burguês que não agüentava
mais ver, nas páginas dos periódicos, assuntos
de caráter sensacionalista.
A
crônica constituiu-se num espaço diferencial nesse
jornal do século XIX. Apesar do seu nascimento nos meios
impressos, em termos oficiais, ter começado com Francisco
Otaviano de Almeida Rosa, em 1852, no Jornal do Comércio
do Rio de Janeiro (COUTINHO, p. 112), foi Machado de Assis quem
imprimiu ao gênero características peculiares,
como a possibilidade de trabalhar com várias linguagens,
temas e significados.
Estes
significados poderiam ser conotativos, quando o escritor utilizava-se
de várias funções e figuras de linguagem,
conferindo ao seu texto inúmeras leituras. Além
da conotação, Machado de Assis recorria à
denotação quando buscava, dentro do próprio
corpo do jornal, temas para trabalhar nas suas crônicas.
Estes temas, no entanto, eram recriados e reinterpretados por
ele.
Assim,
o escritor ultrapassava a referencialidade jornalística
ou a influência literária, conferindo ao seu texto
uma autonomia estética, "Machado de Assis é
o cronista que buscou a maturidade estética da crônica,
tornando-a um gênero com autonomia estética que
pode abrigar várias linguagens nos jornais e manter uma
independência lingüística ante o folhetim
e o discurso jornalístico de sua época" (PEREIRA,
p.113).
|
Reprodução

Machado de Assis
(1839-1908).
|
A
crônica dotada de uma independência estético-estilística
praticada por Machado de Assis, por exemplo, era uma
exceção. O jornal da época continha
em suas páginas um discurso bacharelesco, de
caráter doutrinário, que se importava
apenas em informar ou opinar de maneira pouco consistente
e fundamentada. Utilizava-se de uma retórica
com palavras difíceis, chavões, sem a
preocupação de construir uma opinião
crítica junto ao leitor. Neste
cenário, o objetivo dos cronistas-escritores
era outro. Eles tentaram imprimir às suas crônicas
uma série de significados, utilizando-se para
isto de funções ou figuras de linguagem,
para que, assim, as pessoas pudessem ter subsídios
para interpretar de diversas formas os fatos sociais.
|
Conceituar
a crônica dentro do periódico, contudo, era algo
difícil neste momento, pois nem mesmo o jornalismo demonstrava
clareza quanto à definição de uma linguagem
própria. O cronista, no entanto, já buscava uma
autonomia estética para o seu texto, "Isto torna
o cronista uma espécie de "artista" no espaço
jornalístico, porque, ao invés de emprestar seu
talento à capacidade de informar, busca construir um
outro universo de significados para interpretar os fatos sociais"
[grifo do autor] (PEREIRA, p.43). Estes fatos sociais eram retratados
nas crônicas, através de um discurso que não
traduzia uma tentativa de doutrinação do público
leitor, mas que representava uma narrativa rica em formas de
leituras e significados.
Neste
período, os jornais mantinham uma dependência com
relação aos gêneros literários, uma
vez que não possuíam uma linguagem própria,
autônoma; recorrendo à literatura como suporte
lingüístico, o que leva alguns autores a declararem
que jornalismo é literatura, "O jornalismo é
uma das categorias da literatura - é uma literatura de
massa. Na opinião de Alceu Amoroso Lima, é um
gênero literário, com seu próprio estilo,
as suas regras, o seu jargão" (BAHIA, p. 28). O
jornal não apresentava apenas um teor literário
no seu conteúdo, conforme a afirmação do
autor, mas também estava impregnado de um tom bacharelesco
e político.
É
certo que o jornalismo do século XIX não tinha
características próprias, definidas, como podemos
atestar através de citações de Wellington
Pereira ou de Nelson Werneck Sodré, mas não concordamos
com a afirmação acima de Juarez Bahia de que o
jornalismo é uma das categorias da literatura, pois,
neste período, a atividade jornalística não
era dotada apenas de uma dependência lingüística
da literatura.
Ela também mantinha a dependência de uma linguagem
doutrinária e de um tom retórico muito comum à
área dos advogados que escreviam para os periódicos;
além de se subordinar a discursos com caráter
político-partidário. Portanto, a ausência
de uma linguagem essencialmente jornalística era um espaço
aberto para vários tipos de influências, fossem
elas literárias, bacharelescas ou políticas.
Em
meio ao sensacionalismo, às críticas ásperas
e ao conteúdo polêmico que imperou nos jornais
deste período, a crônica representou um espaço
definido, independente no jornal. Ela apresentou uma linguagem
própria, graças ao trabalho consciente dos cronistas-escritores,
"O escritor do século XIX fazia do seu ofício
uma profissão de fé na verdade. Conscientes do
papel de historiadores do momento fugaz, eles informavam o que
se passava a seu redor com a intenção de deixar
um testemunho para a posteridade" (ARNT, p.24). O escritor-cronista
usou da sua sensibilidade e argúcia para tentar imprimir
ao seu texto uma linguagem independente de toda a sorte de vícios,
expressões difíceis ou jargões que predominaram
no jornal desse período.
1.3.
A crônica no jornal do século XIX
A
imprensa teve início, no Brasil, oficialmente, em 1808,
com a publicação do Jornal Gazeta do Rio de Janeiro.
Há controvérsias, contudo, quanto ao fato da Gazeta
ser o marco inicial da imprensa, pois três meses antes
surgia o Correio Brasiliense editado em Londres por Hipólito
da Costa. No entanto, como sabemos a Gazeta foi porta-voz oficial
do Império Português, cuja Corte acabara de se
transferir para o Brasil; talvez este fato explique o mérito
que lhe fora concedido.
A
imprensa do século XIX guardava resquícios da
imprensa colonial, a qual se caracterizou por não possuir
uma linguagem e nem padrões jornalísticos. Além
disso, ela se configurava como uma espécie de boletim
oficial da Corte, reproduzindo o que fosse conveniente para
o Império, o qual também funcionava como financiador
de muitos desses periódicos. Para Wellington Pereira,
nesse período não se pode falar propriamente de
jornalismo, mas apenas de imprensa:
O
período histórico que vai desde a época
colonial até o Império, passando pela Primeira
República, pode ser considerado como o da imprensa
sem jornalismo, porque, nos jornais, os fatos são veiculados
numa ordem quase inversa aos acontecimentos sociais. O que
interessa é o discurso institucional (...). Ao contrário
de uma estrutura jornalística que permite um deslocamento
de informações, os jornais reproduzem o sistema
cartorial na construção da informação,
sem dar prioridade à hierarquização dos
fatos sociais, mas tentando legitimá-los do ponto de
vista do colonizador. (PEREIRA, p. 57).
Nessa
sociedade, onde o periódico distribuía em suas
páginas um conteúdo vazio e passível da
interferência dos poderosos, a proposta de um jornalismo
como porta-voz da sociedade, legitimador de fatos sociais importantes,
reconstruídos e reelaborados pelo jornalista, estava
muito distante da realidade que podemos observar no século
XIX.
Neste
período, começava a se formar uma imprensa que
se caracterizava pela efetivação de um processo
técnico que envolvia máquinas, alguma melhora
gráfica, enfim, uma valorização dos mecanismos
de impressão dos jornais. No entanto, não havia
uma preocupação em se trabalhar os processos envolvidos
na produção da informação, que são
fundamentais para o conceito de jornalismo - atualidade, periodicidade,
difusão e universalidade -, por isso se fala que há
imprensa, mas não há pressupostos que fundamentem
o jornalismo, tal qual existe na sociedade contemporânea.
Além
do caráter institucional que era dado às notícias,
elas se caracterizavam pela presença dos costumes morais
e sociais burgueses, pela constatação de alguns
gêneros literários como as novelas e os romances,
estes últimos eram, inicialmente, publicados no espaço
folhetinesco, no rodapé dos jornais.
Os
periódicos também traziam os artigos de fundo,
ou seja, textos opinativos que continham uma linguagem doutrinária
com palavras e expressões difíceis. Mas, cujo
conteúdo pouco consistente estava muito longe de construir
no leitor uma opinião, um senso crítico da realidade
brasileira. Ainda existiam as crônicas, mas estas, desde
já, possuíam diferenças com relação
aos demais conteúdos dos periódicos, devido à
sua autonomia de significação, temática
e lingüística, o que lhe conferia um espaço
próprio dentro dos jornais. A linguagem predominante
nos periódicos não era independente, pois apresenta
diversas vertentes como a doutrinária, a política
e literária.
O
Correio Brasiliense, segundo Wellington Pereira, foi o único
jornal que manteve uma ruptura com a imprensa oficial, tentando
dar ao leitor uma visão mais ampla do Brasil (PEREIRA,
pp.57-58). Entretanto, esse periódico constituiu-se numa
exceção para a imprensa da época que funcionava
como uma legitimadora dos poderosos, não promovendo uma
reflexão sobre a sociedade brasileira. Houve uma melhoria
nos procedimentos gráficos, sobretudo, a partir da segunda
metade do século XIX, mas não aconteceu o mesmo
com relação às técnicas de construção
das informações e, conseqüentemente, à
deficiente linguagem da imprensa, segundo Nelson Werneck Sodré:
O
noticiário era redigido de forma difícil, empolada.
O jornalismo feito ainda por literatos é confundido
com literatura, e no pior sentido. As chamadas informações
sociais - aniversários, casamentos, festas - aparecem
em linguagem melosa e misturam-se com a correspondência
de namorados, doestos a desafetos pessoais e a torva catilinária
dos a pedidos. (SODRÉ, p. 283).
Diante
do jornal desse período histórico, veiculador
de uma linguagem difícil, de aspecto retórico
e bacharelesco, em que não havia a mínima noção
de sistematização da informação,
a crônica apresentava uma situação particular.
Os cronistas, ao contrário de muitos bacharéis
ou literatos, não impregnavam seus textos de uma linguagem
retórica, de difícil compreensão e pouco
conteúdo. Eles buscavam elaborar suas crônicas
com assuntos que estavam muito próximos às pessoas.
O cotidiano era o universo sobre o qual ele se debruçava
para extrair a matéria-prima de seus textos.
Na
narrativa cronística, o autor utiliza-se de várias
figuras de linguagens - metáfora, hipérbole, personificação,
entre outras - e também de funções lingüísticas
como a poética, a expressiva, a referencial, etc. Esse
mecanismo lhe possibilita criar uma riqueza de significados
conotativos e denotativos para o seu texto. Os leitores, ao
entrarem em contato com essa crônica não lhe atribuirão
apenas um sentido, mas serão capazes de retirar diversas
significações, devido ao potencial lingüístico
que possui.
Neste
sentido, a crônica ultrapassa as limitações
do texto jornalístico, o qual transmite para o leitor
um discurso que traduz basicamente uma leitura, entre tantas,
que um fato pode ter.
Ao
cronista não cabe apenas implicar significados conotativos
aos fatos, ele também se preocupa em reinterpretar o
conteúdo que aparece no corpo do jornal. Mesmo quando
trabalha os fatos sob uma perspectiva da denotação,
o seu texto está aberto a múltiplas interpretações
do leitor, "Na maioria desses autores dos primeiros tempos,
a crônica tem um ar de aprendizado de uma matéria
literária nova e complicada, pelo grau de heterogeneidade
e discrepância de seus componentes, exigindo também
novos meios lingüísticos de penetração
e organização artística" (ARRIGUCCI,
p.57). O aspecto heterogêneo da crônica, por sua
vez, não deve ser passível de análises
literárias ou jornalísticas, mas deve ser capaz
de mostrar aos estudiosos que sua autonomia lingüística
e semântica a tornam um texto, por si só, independente.
A
capacidade de ousar dos cronistas lhes possibilitaram criar
um espaço autônomo para a crônica dentro
do jornal do século XIX que foi conquistado, sobretudo,
a partir de Machado de Assis. Ele é sem dúvida
quem melhor exercitou a crônica como espaço capaz
de absorver várias linguagens, significados e temas.
No século XX, os cronistas modernos continuaram proporcionando
à crônica autonomia estética, mas buscaram
também fazer uma leitura dos seus textos no espaço
jornalístico.
1.4.
Inovações na crônica moderna
As
mudanças jornalísticas começaram a acontecer.
O século XX esteve sob a égide de várias
transformações como a divisão social do
trabalho; o surgimento do rádio e a eclosão da
Primeira Guerra Mundial que causaram profundas modificações
na imprensa. Esta viveria um grande processo de modernização
através da importação de novos equipamentos
e de uma maior definição nas relações
sociais de trabalho, conseqüências da intensificação
do sistema capitalista. Essas relações se deram
com a definição de três classes sociais:
a burguesia, dona dos meios-de-produção; os trabalhadores
intelectuais que escreviam nos jornais e os operários
que constituíam a classe proletária.
Tais
mudanças promoveram uma passagem da imprensa artesanal
para uma imprensa industrial, "(...) convém lembrar
que a imprensa industrial da fase capitalista é bem diversa
da imprensa artesanal que a antecedeu; nela, a divisão
do trabalho ampliou-se consideravelmente, e a divisão
em classe tornou-se clara" (SODRÉ, p.417). Se podemos
observar transformações tecnológicas bem
como uma maior definição nas relações
trabalhistas, não podemos falar o mesmo sobre a linguagem
predominante nos jornais.
A
linguagem jornalística até a segunda metade do
século XX, no Brasil, continha resquícios daquela
linguagem empolada, bacharelesca, de caráter retórico
que predominou no século XIX. A sistematização
lingüística dos jornais demorou um pouco a acontecer,
o que causou uma situação paradoxal, pois num
extremo verificamos o avanço tecnológico da imprensa,
mas por outro lado, inicialmente, não havia uma linguagem
própria, autônoma, capaz de caracterizar o jornalismo
brasileiro.
Dessa
maneira, a informação ainda não se encontrava
nos moldes adequados para que se tornasse um bem de consumo
capaz de preencher os requisitos necessários para indústria
capitalista do jornalismo. Essa deficiência fez com que
se criasse uma sistematização da linguagem para
que o periódico pudesse atender a algumas necessidades
imprescindíveis da informação enquanto
mercadoria como a universalidade, atualidade, periodicidade
e difusão.
A
notícia tornou-se, então, um bem de consumo como
outro qualquer e como tal deveria atender às exigências
de um público consumidor atento que passou a ter inúmeras
possibilidades de adquirir um mesmo tipo de produto. Esses imperativos
fizeram com que acontecessem várias modificações
no corpo do jornal, desde sua divisão em seções
especializadas até imposições aos literatos
para que estivessem atentos à objetividade jornalística,
conforme assinala Nelson Werneck Sodré:
Tais
alterações serão introduzidas lentamente,
mas acentuam-se sempre: a tendência ao declínio
do folhetim, substituído pelo colunismo e, pouco a
pouco, pela reportagem; a tendência para a entrevista,
substituindo o simples artigo político; a tendência
para o predomínio da informação sobre
a doutrinação (...). Aos homens de letras, a
imprensa impõe, agora, que escrevam menos colaborações
assinadas sobre assuntos de interesse restrito do que o esforço
para se colocarem em condições de redigir objetivamente
reportagens, entrevistas, notícias. (SODRÉ,
pp. 296-297).
Nessas
condições, podemos observar que as colaborações
dos literatos passaram a ocupar um espaço separado, pois
o jornal não pretendia manter o predomínio do
caráter literário em suas páginas. Assim,
também a crônica passou a ter um lugar específico
quanto à forma de distribuição das informações.
O cronista do século XX preocupou-se com o espaço
jornalístico que o seu texto ocupava, ou seja, em suas
crônicas praticavam o exercício de metalinguagem,
onde discutiam a importância, a finalidade, sua relação
com o leitor e as especificidades do que escreviam. Esta autodiscussão
da crônica, entretanto, não foi algo exclusivo
dos cronistas modernos. Machado de Assis, por exemplo, já
no século XIX, se debruçava sobre a discussão
da imprensa e lançava questões sobre o texto que
escrevia.
Os
cronistas ligados ao movimento modernista brasileiro, na primeira
metade do século XX, além de empreenderem uma
riqueza lingüística aos seus textos, passaram a
levantar problemáticas sociais brasileiras como, por
exemplo, a seca e as desigualdades sócio-econômicas.
|
Estes
cronistas se preocuparam também em trabalhar com
fatos do corpo jornalístico, mas, ao contrário
de pretenderem alcançar uma utópica objetividade,
procuraram dar um leque de significações
às suas crônicas. Para
Wellington Pereira, "João do Rio representa
bem a tentativa da crônica ampliar significados
no espaço jornalístico (...). O cronista
deixa de ser um mero observador para ir buscar os fatos
onde eles estiverem. Este procedimento nasce, no jornalismo
brasileiro do século XX, com a publicação
das crônicas de João do Rio (...)" (PEREIRA,
pp. 126-127). Nesse período, as transformações
que ocorreram no ambiente urbano levaram os cronistas
a ampliarem suas possibilidades temáticas e lingüísticas.
|
Reprodução

João do Rio
(1881-1921).
|
Além
de João do Rio, outros cronistas caracterizaram o século
XX: Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira,
Oswald de Andrade, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Rachel
de Queiroz, Vinícius de Moraes, entre tantos outros.
Mas, para muitos estudiosos da crônica foi com Rubem Braga
que ela se consolidou, na década de 1930. Sobre ele Davi
Jr. Arrigucci declara, "(...) para ele, a crônica
é a forma complexa e única de uma relação
do Eu com o mundo (...). Uma arte narrativa, enfim, cotidiana
e simples, enroscada em torno do fato fugaz, mas liberta no
ar, para dizer a poesia do perecível" (ARRIGUCCI,
p.64). Rubem Braga também se caracterizou pelo fato de
ter se dedicado apenas ao ofício de escrever crônicas,
com as quais conseguiu obter o mérito de grande escritor.
A
crônica, a partir de então, incorporou com mais
intensidade uma linguagem que se aproximava da fala coloquial
dos brasileiros. Era uma maneira de falar das coisas simples
do cotidiano de uma forma clara, entendível por todos.
O
cronista com a sua capacidade de observar os fatos ou mesmo
criá-los, reinterpretando-os à sua maneira e materializando-os
através do jornal, oferece ao leitor um texto com enormes
possibilidades. Esse leitor poderá construir vários
significados para o texto que chega às suas mãos
e, certamente, terá sua sensibilidade atingida por algo
que a crônica diz ou mesmo pela capacidade que ela tem
de remetê-lo a outros fatos da vida.
A
narrativa cronística possui, portanto, uma amplitude
semântica, temática, lingüística. Isso
a torna detentora de uma autonomia estético-estilística,
configurando-a como um espaço aberto, amplo. Nesse processo
o leitor também terá um papel ativo, pois cabe
a ele recriar e transformar o conteúdo que chega às
suas mãos.
Mesmo
que milhares de cronistas escrevam sobre um mesmo tema, a carga
de significados produzidos e sentidos não serão
semelhantes. Cada história irá tocar de diferentes
maneiras as pessoas.
Se
uma história com a mesma temática pode se desmembrar
em inúmeras, a depender dos diferentes pontos de vista
de cada cronista; imagine a riqueza de temas que a vida, num
processo de constantes mudanças, oferece como matéria-prima...
Era
uma vez uma história... e ela nunca terá fim...
Referências
Bibliográficas
ARNT,
Héris. Jornalismo literário. In: Revista Logos:
comunicação e universidade. Rio de Janeiro: UERJ,
Faculdade de Comunicação Social, Vol. 1, setembro
de 1990.
ARRIGUCCI,
Davi Jr. Fragmentos sobre crônica. In: Enigma e comentário
- ensaios sobre literatura e experiência. São Paulo:
Companhia das Letras, 1987.
BAHIA,
Juarez. Jornal, história e técnica: história
da imprensa brasileira. São Paulo: Ática. Vol.
I, 1990. 4ª edição.
BENDER,
Flora; LAURITO, Ilka. Crônica - história, teoria
e prática. São Paulo: Scipione. Col. Margens do
texto, 1993.
COUTINHO,
Afrânio. Ensaio e Crônica. In: A Literatura no Brasil.
Rio de Janeiro: Editorial Sul Americana. Vol. 6, 1997. 2ª
edição.
MELO,
José Marques de. A Crônica. In: Jornalismo e literatura:
a sedução da palavra. São Paulo: Escrituras
Editora. Col. Ensaios transversais, 2002.
MOISÉS,
Massaud. A criação literária - Prosa. São
Paulo: Cultrix, 1978.
PEREIRA,
Wellington. Crônica: a arte do útil e do fútil:
ensaio sobre crônica no jornalismo impresso. Salvador:
Calandra, 2004.
SÁ,
Jorge. A Crônica. São Paulo: Ática. Col.
Princípios, 1985. 2ª edição.
SODRÉ,
Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de
Janeiro: Mauad, 1999. 4ª Edição.
*Érica
Michelline Cavalcante Neiva é formada no curso de Jornalismo
da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia). E-mail:
ericaneiva@bol.com.br.
Voltar
|

