|
Inventando
tradições: os historiadores
e a pesquisa inicial sobre o jornalismo
Por
Richard Romancini*
Resumo
O
texto discute a pesquisa sobre as imprensa e o jornalismo brasileiro
feita por historiadores a partir do século XIX. A análise
de textos publicados de 1865 a 1928 enseja uma interpretação
sobre o significado cultural mais denso dessa pesquisa. O que
se propõe é que as investigações
que abordaram os jornais, feitas então principalmente
nos Institutos de História e Geografia espalhados pelo
Brasil, representaram tentativas de expressar "regionalismos",
ou seja, a concepção da centralidade de diferentes
tradições regionais face ao nacional (o exemplo-chave
é São Paulo), num contexto de discussões
sobre a identidade brasileira.
Palavras-chave
Pesquisa
em Jornalismo, História, Ideologia, Regionalismo
Introdução
Somos
um povo em infância, somos nós os fazedores do
nosso passado, não há dúvida, mas não
poderemos levar adiante a nossa missão se desprezarmos
o que nos constitui o passado da pátria. A perspectiva
das origens é um elemento primordial dos povos em formação,
é pela memória que deve começar a obra
de construção nacional.
Alceu
Amoroso Lima. Pelo passado nacional. Revista do Brasil. 1916,
apud: Luca, 1998, 89. Grifo nosso.
Este
texto apresenta uma discussão dos contextos institucionais
e ideológicos que demarcam a pesquisa sobre o jornalismo
feita no Brasil, particularmente em São Paulo (no Instituto
Histórico e Geográfico da cidade - IHGSP) e no
Rio de Janeiro, no Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro (IHGB), na segunda metade do século XIX e
primeiras décadas do anterior, evidenciando as tensões
entre os grupos, em disputa por uma concepção
de "história nacional". Símbolos de
civilização e progresso, o impresso e os jornais
serviram como objeto para a expressão de idéias
implícitas sobre as origens e destinos da nação
ou de determinadas regiões. Colocar no centro da história
está ou aquela "tradição" expressava
determinada concepção sobre o próprio país.
As
primeiras propostas de historiar a atividade jornalística
ou da introdução da imprensa no país e,
por conseguinte, do que podemos considerar como o início
da atividade de pesquisa sobre o jornalismo, ocorrem, sobretudo,
nos Institutos Históricos e Geográficos. Assim,
o que é constatável é que existe uma série
de estudos, publicados antes do século XX, sobre imprensas
regionais: do Rio de Janeiro (Azevedo, 1865), do Maranhão
(Marques, 1878 e 1888), Pernambuco (Pereira, 1883, Costa, 1891),
Minas (Veiga, 1897), Ceará (Perdigão, 1897) e
São Paulo (Toledo, 1898).
A
que corresponde este surto de pesquisa, que tem desdobramentos
nas décadas posteriores? Argumentamos aqui que, à
distância, fica bastante nítida a expressão
de "regionalismos" - ou seja, o modo como por meio
deles procurou-se inserir determinadas tradições
regionais dentro do panorama nacional, se possível com
destaque. Assim tais proposições podiam por vezes
articular-se a projetos políticos para o futuro da nação.
Estes seriam, portanto, os aspectos mais significativos a justificar
o esforço.
A
distância temporal frente a esta produção
ajuda a construir uma análise desse tipo, mas esta nem
precisou ser muito grande. Conforme nota com toda a propriedade
um dos primeiros comentaristas de parte dessa produção:
"Cada Estado quer chamar para si a prioridade da introducção
da imprensa no Brazil"(1) (Barbosa, 1902, 240). Alguns
estados não tinham condições de afirmar
qualquer "direito de prioridade", todavia, mobilizam
outros recursos - como a pujança de sua imprensa, no
caso de São Paulo - para afirmar-se nacionalmente.
Os
Institutos Históricos e Geográficos foram, junto
com os Museus brasileiros, os primeiros e mais importantes espaços
que existiam no século XIX para a pesquisa de humanidades,
e para a ciência em geral, no Brasil. É interessante
notar que privilegiavam, nesses âmbitos, uma dimensão
"catalogatória" (com a construção
de grandes acervos em certas áreas) que possibilitasse
classificações, num marco evolucionista (Schwarcz,
2001). A própria pesquisa do jornalismo terá também
um cunho de construção de acervo do que tinha
sido feito.
Ambos
os órgãos mencionados (IHGB e IHGSP) têm
semelhanças em termos de métodos e concepções
de história, num marco iluminista e evolutivo, todavia,
apresentam diferenças significativas no modo como pretendem
criar uma tradição nacional, expressar determinada
variante de "regionalismo". Tal situação
de disputa entre regiões remete a profundas transformações
na sociedade brasileira, entre meados do século XIX e
início do seguinte, contexto no qual São Paulo
começa a assumir um papel de liderança nacional.
Nesse sentido, desenvolve-se uma concepção de
"paulistanidade", ao qual, por motivos discutidos
adiante, associamos à pesquisa do jornalismo feita pelo
IHGSP.
Sob
o ponto de vista específico da pesquisa sobre a imprensa,
parece reforçar-se a interpretação dos
Institutos como âmbitos de "disputas que se verificavam
entre regiões influentes no interior da política
imperial e da República Velha" (Schwarcz, 1993,
100).
O
modelar IHGB: "documentar para bem festejar"
O
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é
fundado em 1838, pouco depois da independência do país,
congregando principalmente membros da elite política.
Alguns anos depois, o próprio D. Pedro II passa a freqüentar
as reuniões do grupo, colaborando com o orçamento
da instituição. O IHGB tomará para si a
tarefa de compor uma história nacional e, nas "mãos
de uma oligarquia local, associada a um monarca ilustrado […]
se auto-representará, nos certamos internos e externos,
enquanto uma fala oficial em meio a outros discursos apenas
parciais" (Schwarcz, 1993, 102). Sua historiografia tenta
"produzir uma homogeneização da visão
de Brasil no interior das elites brasileiras" (Guimarães,
1988, § 5).
A
criação de uma revista, em 1839, apresenta a produção
do grupo e revela suas preocupações(2). O IHGB
procura produzir uma fala oficial, "interessada em buscar
eventos conformadores de uma identidade nacional, [que] encontrava
em momentos históricos do país seus episódios
ideais" (Schwarcz, 1993, 113). Assim, a partir de uma
concepção
herdada do iluminismo, de tratar a história enquanto
um processo linear e marcado pela noção de progresso,
nossos historiadores do IHGB empenham-se na tarefa de explicitar
para o caso brasileiro essa linha evolutiva, pressupondo certamente
o momento que definiam como o coroamento do processo. (Guimarães,
1988, § 27)
Eventos
como o "descobrimento" e a emancipação
política seriam vistos por esta ótica, principalmente
até o início do século XX - mesma lógica
que esta por trás da comemoração do Centenário
da imprensa brasileira, em 1908. Da preocupação
central em "Colligir, methodizar e guardar" (RIHGB,
1839 apud Schwarcz, 1993, 99) resultava uma
história
da pátria [que] era antes de tudo um exercício
de exaltação. Essa lógica comemorativa
do instituto se efetivou não só mediante os
textos produzidos e publicados na revista, como por uma prática
efetiva de produção de monumentos, medalhas,
hinos, lemas, símbolos e uniformes próprios
ao estabelecimento. Lembrar para comemorar, documentar para
bem festejar.
O
IHGB sobrevive ao fim da monarquia. Max Fleiuss, o então
secretário do órgão, logra construir uma
aliança com os representantes do novo poder: modifica
estrategicamente, em 1905, o dia em que se realizavam as sessões
magnas do Instituto para 15 de novembro - antes, eram no dia
da primeira participação do imperador no IHGB
- e procura garantir acesso no Instituto aos identificados com
a nova ordem. D. Pedro II continuaria, porém, a ser considerado
"defensor perpétuo" da associação.
E Fleiuss, uma espécie de profissional do Instituto,
bastante ativo no cotidiano prático do órgão,
tornar-se-ia igualmente "secretário perpétuo"
(cargo do primeiro-secretário).
A
queda da monarquia obriga o IHGB a adaptar-se, mas ele não
se descaracteriza, mantendo sua preocupação central
em produzir uma história nacional, articulando um conjunto
de interpretações sobre o Brasil, sustentadas
por uma visão que tem a cidade do Rio, as elites tradicionais
letradas portadoras de um projeto centralizador como eixos.
Embora nas primeiras décadas do século XX os estudos
tragam novos arcabouços explicativos (evolucionistas
e deterministas), e os intelectuais participem mais do debate
contemporâneo, a questão nacional é que
igualmente dirige os novos temas.
IHGSP:
São Paulo primeiro
Criado
já na República, em 1894, o Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo tomaria como modelo
o congênere nacional, porém teria algumas diferenças
significativas em relação a este. Possuiu, por
exemplo, mecanismos de acesso menos elitistas, sendo fundado
depois que uma nota, publicada no final de 1894 no jornal O
Estado de S. Paulo, convidava "homens de lettras desta
capital para uma reunião a effetuar-se hoje ao meio dia
[…]. O fim da reunião é tratar da criação
do Instituto Histórico Paulista". Ao mesmo tempo,
e mais importante, chocava-se com o IHGB ao propor um modelo
historiográfico baseado em São Paulo.
"A
história de São Paulo é a própria
história do Brasil" (RIHGSP, 1895, 1) afirma provocativamente
o primeiro número da revista logo criada pelo grupo.
Lilia Schwarcz (1993, 126) explicita bem o sentido desta provocação
para com "o projeto unitário do estabelecimento
carioca, que se autodenominou Instituto Brasileiro, supondo
um certo consenso que cada vez menos se sustentava". O
grupo paulista estabelece um distanciamento para com o IGHB
até mesmo na "absoluta falta de referências
ao estabelecimento carioca, que não aparece sequer arrolado
entre as associações com as quais o IHGSP manteria
comunicação" (idem).
O
fato mencionado coloca em evidência não só
disputas institucionais - que também ocorrem entre o
Museu Nacional e o Paulista (Schwarcz, 2001) -, mas as que ocorrem
entre as elites dos dois Estados, em função do
panorama social que emerge:
Com
o crescente predomínio das regiões cafeeiras
paulistas, e concomitante decadência das portentosas
fazendas cariocas do Vale do Paraíba, já na
década de 80 do século passado vivia-se uma
evidente mudança no equilíbrio interno do país.
São Paulo, nesse momento, representava o estado mais
dinâmico, não só devido a sua situação
econômica privilegiada, como também por contar
com melhor nível de integração interna,
amplamente garantido por sua extensa rede ferroviária.
A nova configuração, por sua vez, não
passará imune a esses arranjos institucionais que tenderão
a produzir e reproduzir internamente dilemas vivenciados na
esfera política e econômica. (Schwarcz, 1993,
126)
Nesse
contexto, o IHGSP seria beneficiado pela situação
financeira do estado, que o apoiava, o que lhe possibilitava
"condições de lutar pela preponderância
sobre os institutos de outras regiões" (Schwarcz,
1993, 129). Com efeito, a Revista do grupo apresenta um padrão
similar de qualidade material à do IHGB e sua distribuição
deveria ter condições equivalentes. De outro lado,
o IHGSP será uma instância de produção
a afirmar uma suposta especificidade paulista, elaborar tradições
do estado - através de biografias de seus vultos, estudos
sobre o passado da província etc.
Nesse
sentido, é também uma historiografia com teor
cívico, paulista sobretudo, mas que buscava afirmar a
prevalência de São Paulo perante a nação
como um todo. Um regionalismo imperialista, por assim dizer.
Não é por outra razão que será gestada
no IHGSP uma releitura da figura do bandeirante, no sentido
de elevá-lo à condição de construtor
da nação. Esse ponto nos conduz a outro aspecto
do contexto da época: a ideologia da "paulistanidade",
que, via bandeirante, mas também no tratamento de outros
temas, tem no Instituto um órgão (re)produtor
importante.
A
ideologia da "paulistanidade"
A
representação regional etnocêntrica construída
pelos paulistas tem uma longa trajetória, configurando
um conjunto de valores, concepções de mundo -
uma ideologia, em suma, nomeada pelos pesquisadores do assunto
como "paulistanidade". Este termo teria sido empregado
pela primeira vez pelo historiador Alfredo Ellis Jr., em 1933,
"para adjetivar o espírito, o sentimento que toma
conta dos paulistas e leva-os à guerra civil de 1932
depois dos ultrajes impostos pelo Governo Provisório"
(Cerri, 1998, § 5). No entanto, a "paulistanidade"
engloba manifestações anteriores de auto-valorização
regional, presentes já no século XVIII com a tentativa
de ligar as famílias paulistanas aos nomes da nobreza
portuguesa, na Nobiliarquia Paulistana, de Pedro Taques (idem,
§ 6).
A
paulistanidade, todavia, crescerá, assumindo a forma
de um sistema mais orgânico no momento, após a
Abolição e a República, em que a questão
nacional tornou-se uma grande preocupação dos
intelectuais brasileiros. Nesse sentido, a reflexão articulou-se
ao problema da nacionalidade. Então, manejando o instrumental
do positivismo, do evolucionismo e determinismo, questões
históricas, geográficas e de outros campos foram
interpretadas a partir de uma perspectiva que coloca São
Paulo como o pólo irradiador da brasilidade, origem da
nação, com uma "natural" vocação
para a liderança do país.
É
evidente que esta crença está relacionada à
circunstância de que o Estado passa a ter - em função
da economia do café e, depois, ao início da industrialização
- um papel mais relevante no país, começando a
adquirir a hegemonia econômica. O desenvolvimento alcançado
sustentava o discurso sobre uma distinção paulista,
os outros estados não teriam atingido o "grau de
civilização paulista" (Ellis Jr., 1930 apud
Moutinho, 1991, 111).
Ao
mesmo tempo, surge uma elite com pretensões de mando
nacional, ao qual a ideologia da paulistanidade cai como uma
luva e que, portanto, estimula esta representação.
O exemplo mais marcante de como isso ocorre no plano da História
é a mitificação, engendrada por historiadores
como Afonso d'Escrangnolle Taunay, da figura do bandeirante.
Os bandeirantes são descritos como responsáveis
pela configuração geográfica do país,
construtores da nacionalidade e identificados com o "ser
paulista".
Instituições
como o Museu Paulista (criado em 1895) e o Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo (1894), como dito -
do qual Taunay foi presidente e em cuja revista publicou muitos
trabalhos - participam dessa operação de um modo
fundamental, ao oferecerem argumentos documentais, conforme
os pressupostos de cientificidade da época, para a construção
mítica da figura do bandeirante. Como bem analisa Luca
(1998, 100-1):
Os
estudos históricos do período norteavam-se pela
busca de cientificidade, que se reputava garantida pela documentação.
Fontes fidedignas, cuidadosamente reunidas e imparcialmente
transcritas, naturalmente possibilitariam o acesso à
verdade. Nesse universo, carecia de sentido inquirir sobre
o relativismo dos testemunhos históricos ou a respeito
dos conceitos e modelos teóricos que guiavam o olhar
do pesquisador. [...] Certamente esta atitude ante o passado
não se constituía um antídoto contra
a subjetividade, mas contribuiu poderosamente para tornar
verossímil uma determinada imagem do bandeirismo.
Típica
"tradição inventada" (Hobsbawn), a paulistanidade
perdurará por muito tempo, com resquícios até
hoje, sobrevivendo à própria derrota paulista
em 32, de modo paradoxal: converte a derrota em vitória,
já que o movimento constitucionalista é visto
como uma expressão máxima da epopéia paulista
pelo Direito e Liberdade, o que só reafirma São
Paulo perante a nação (Cerri, 1998, § 24).
Feitas
estas considerações sobre a ideologia da paulistanidade,
passaremos, a seguir, à discussão sobre os trabalho
sobre a imprensa no Brasil produzidos no âmbito do IHGB
e no IGHSP, neste caso, especificamente, dos nexos entre a paulistanidade
e a pesquisa realizada. Neste caso há, em primeiro lugar,
o dado de origem da mesma, o Instituto Histórico e Geográfico
de São Paulo - espaço importante de criação
e irradiação dessa ideologia - e as relações
que grupo paulista (não) teve com os intelectuais que
pesquisaram a história geral e da imprensa brasileira,
no âmbito do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, localizado no Rio de Janeiro. Outro ponto é
a espécie de "mito de origem" que os estudos
do IHGSP apresentam sobre a imprensa em São Paulo.
No
caso da pesquisa do IHGB, como se vê a seguir, o ponto
de inflexão regional é a tentativa de estabelecer
contigüidade entre o Brasil Império - inclusive
a etapa do Reino Unido a Portugal -, e a República, com
base no Rio. Ignora-se, em grande medida, São Paulo,
desse modo. De outro lado, a história celebrativa proposta
procura ser a "história oficial" do Brasil,
isenta de conflitos e crente num destino de progresso que a
imprensa prenuncia para o país.
A
pesquisa sobre a imprensa no IHGB: "muito nos devemos orgulhar
do nosso paiz!"
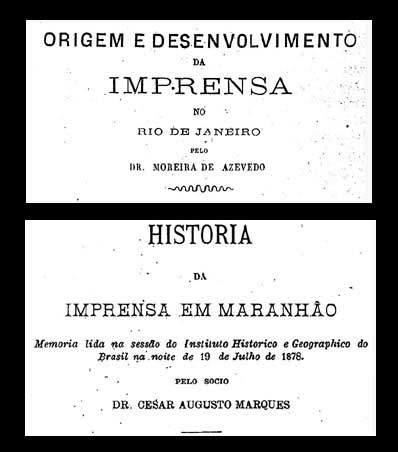 |
Imagem
1 A própria composição
tipográfica permite perceber a centralidade do
Rio de Janeiro na história via IHGB, ao contrário
da história regional do Maranhão. Detalhes
das primeiras páginas dos trabalhos de Azevedo
(1865) e Marques (1878).
|
Imagem
2 A perspectiva monárquica
do IHGB e o regionalismo com base no Rio explicam
a adoção do marco de 1808 para o "estabelecimento
definitivo" da imprensa no Brasil, bem como a
inclusão de um retrato de D. João VI
na capa da revista do IHGB sobre o Centenário
da Imprensa.
|
|
A
Exposição Nacional, destinada a festejar a abertura
dos portos, isto é, o inicio da Independencia do Brazil
[...] lacunosa seria, se nella não figurasse uma secção
de jornaes. [...]
Deu uma nota clara, vibrante e harmoniosa, no hymno triumphal
entoado pelas grandes, bellas e úteis cousas reunidas
na Exposição - hymno do esforço, da enegia,
da perseverança, da capacidade e, sobretudo, da confiança
suprema na predestinação do Brazil.
Conde
Afonso Celso, Presidente da Comissão Executiva da Exposição
da Imprensa in: RIHGB (1908, Edição Especial
do Centenário da Imprensa Periódica)
O
primeiro texto da Revista do IHGB sobre a imprensa, provavelmente
o primeiro texto sobre a história da imprensa no Brasil,
será, não por acaso, uma descrição
da "Origem e desenvolvimento da imprensa no Rio de Janeiro"
(Azevedo, 1865). É significativo que, graficamente, na
primeira página do texto, os termos "Origem e desenvolvimento"
e "Imprensa" sejam destacados, enquanto "Rio
de Janeiro" não tanto, pois esta num corpo de texto
bem menor. É como se o Rio resumisse a história
brasileira até aquele momento.
Assim,
o autor tratará da inserção da imprensa
na cidade com Isidoro da Fonseca, mas não de nenhuma
das introduções efetivas ou hipotéticas
de prelos nas Províncias. A seguir, aborda a implantação
da Imprensa Régia e, de modo descritivo, vai arrolando
os principais momentos do jornalismo da época, principalmente
pelas menções ao que se publicou, ano a ano, conforme
um procedimento catalogatório bem típico do IHGB
e da historiografia da época, procurando reconstituir
o que foi a imprensa carioca.
Porém,
o tom sereno do texto não se mostra isento de interpretações,
de um certo tipo de discurso que se tornará característico
da "história oficial" da imprensa brasileira
via IHGB. Assim, se Azevedo procurar arrolar tudo que foi publicada
na época no Rio de Janeiro, os agentes e projetos mais
democráticos não merecem destaque, ao contrário
dos neutros (como o Diário do Rio de Janeiro) ou conservadores
(como José da Silva Lisboa). João Soares Lisboa,
um dos jornalistas de propostas mais democráticas então,
não é sequer citado. Seu jornal, O Correio do
Rio de Janeiro, ganha a menção do ano em que aparece,
junto outros periódicos que propugnam pela "liberdade
e pelo futuro da patria" em 1822, no entanto, estes são
caracterizados mais pela "linguagem exaltada e veemente"
do que por suas propostas.
Assim,
Azevedo inaugurará, no âmbito do estudo do jornalismo,
não só uma vertente de crítica aos pasquins
e sua linguagem "imprópria", mas também
uma historiografia ao mesmo tempo triunfante - a típica
história "oficial", conservadora, tão
criticada por Sodré em sua história da imprensa
(Sodré, 1966) -, confiante nos progressos do país
sob o Império e que recomenda uma "moderação"
para a linguagem do jornalismo. Os nexos sociais mais significativos
do fenômeno da imprensa são negligenciados. Azevedo,
como os pesquisadores que lhe seguem, preocupem-se mais inventariar
os inúmeros periódicos que de fato surgiram do
que entender sua influência de modo mais amplo: dados
sobre tiragens são raros, por conseguinte. Nessa perspectiva,
é mais coerente entender as dificuldades da imprensa
em função de uma suposta "fria e cruel"
indiferença popular, do que abordar o baixo nível
de alfabetização. Como demonstração
dessa crônica ufanista vale a pena transcrever um trecho
de sua conclusão:
Facil
é reconhecer o desenvolvimento que tem tido entre nós
a imprensa periodica, política e litteraria; os nossos
diarios não são inferiores aos da Europa nem
em formato, nem em variedade de materia, nem em nitidez de
impressão. Já se foram os tempos em que o jornal
politico era o pelourinho de reputações, o cego
cruento onde se sacrificavam a honra, a dignidade, os brios
de todos; felizmente hoje é modelada, digna e respeitosa
a linguagem da imprensa politica; ha mais gravidade e sisudeza
na expressão, mais escrúpulo e consciencia na
phrase; o jornalismo já não é o pasquim
antigo, é o pharol que guia, educa e doutrina o povo,
[...] o pensamento, a vida do progresso social.
Tambem
tem progredido a imprensa litteraria; cada ano augmenta-se
o numero de obras impressas no paiz, vai se propagando o gosto
da leitura, vai tomando um caracter mais peculiar e patrio
a litteratura do paiz; há mais animação
e vida nas letras, e pouco e pouco vai desapparecendo essa
indifferença fria e cruel, que nos tem sido fatal,
e que tem talvez retardado o progresso material e moral a
nação. (Azevedo, 1865, 223-4)
Outros
textos sobre a imprensa brasileira que aparecem na Revista do
IHGB dizem respeito à imprensa do Maranhão (Marques,
1878 e 1888), caso em que a folha de rosto do trabalho dá,
graficamente, o mesmo destaque aos termos "imprensa"
e "Maranhão", ou seja, não há
dúvida que se trata de uma história regional,
sem as pretensões nacionais do Rio. Existem ainda outros
estudos publicados em Institutos regionais - trabalhos que não
fogem ao modelo historiográfico do IHGB. Todavia, para
efeito da discussão desse texto, nos voltamos para a
análise do volume especial da Revista do IHGB sobre o
centenário da imprensa no Brasil.
A
revista inicia-se com uma introdução de Max Fleiuss
que demarca o contexto no qual foi preparada a edição:
a partir de uma iniciativa sua e de Alfredo de Carvalho, numa
das sessões ordinárias IHGB, no ano anterior,
para que fosse promovida "uma solennidade, de caracter
essencialmente historico, para comemmorar o primeiro centenario
da imprensa periodica no Brasil" (RIHGB, 1908, Tomo dedicado
ao centenário da imprensa, V). Nesse sentido é
redigida uma proposta, que vale a pena transcrever:
Considerando
que a 13 de maio de 1908 se completa o primeiro centenário
do estabelecimento definitivo da Imprensa no Brazil, com a
promulgação do decreto que creou a Imprensa
Regia, propomos que o Instituto Histórico e Geographico
Brazileiro promova a celebração condigna de
data tão memoravel, por meio de uma exposição
jornalística, a ser inaugurada naquelle dia, procurando
angariar para este fim o auxílio dos poderes publicos
e da Imprensa de todo o paiz. (Fleiuss, RIHGB, 1908, VI) Grifo
nosso.
É
essencial notar nesta fala a idéia de "estabelecimento
definitivo", pois é esse conceito que permite driblar
a comprovada existência de uma tipografia no Rio em 1747
(do impressor Isidoro da Fonseca), bem como a - reivindicada
pelos pernambucanos - tipografia de Recife no início
do século XVIII. E, dessa forma, estabelecer um marco
que tem a monarquia como centro - não por acaso, a primeira
página da revista do IHGB sobre o centenário traz
uma gravura do "Príncipe D. João - auctor
do decreto de 13 de maio de 1808, instituindo a Impressão
Régia no Brasil".
O
texto introdutório de Fleiuss vai também desvelando
a montagem de comissão que organizaria o evento, que
procurou contemplar tanto os indivíduos ilustres que
davam visibilidade ao Instituto, quanto membros mais operativos
do Rio e outros locais. Os participantes dessa comissão
teriam as seguintes tarefas: organizar a exposição
dos jornais publicados de 1808 a 1907; publicar uma monografia
sobre a imprensa periódica brasileira; publicar um catálogo
de "todos os specimens, ou collecções que
figurarem na Exposição" e promoverem a cunhagem
de uma moeda comemorativa (Fleiuss, 1908, RIHGB, VIII).
A
monografia sobre a imprensa fica a cargo de Alfredo de Carvalho,
e será a primeira parte da revista dedicada ao centenário
(Carvalho, 1908). Já os catálogos publicados na
segunda parte da revista seriam "parciais" (os Annaes
da Imprensa Periódica Brazileira) e estão ligados
a Institutos na órbita do IHGB, ou seja, Pernambuco,
Maranhão e outros, mas não o IHGSP. A aparente
exclusão é marcante, pois um dos membros do Instituto
paulista, Lafayete de Toledo, faria um trabalho, em tudo similar
ao que é centralizado no IHGB, antes (Toledo, 1898).
De fato, não se identificam, entre os vários nomes
ligados ao empreendimento, pessoas ligadas à instituição
paulista. E embora se faça menção a elaboração
de um catálogo para São Paulo (a cargo de Pedro
Augusto Carneiro Lessa), bem como a outros estados, ele não
faz parte da revista (Fleiuss, RIHGB, 1908, IX); aparentemente
tais catálogos não foram publicados.
Chamativo
ainda é o fato que, dentre as 44 reproduções
de capas de periódicos de todo o Brasil que ilustram
a primeira parte da Revista, apenas uma é de um jornal
paulista (O Farol Paulista entre as páginas 16 e 17),
contra 12 reproduções de periódicos surgidos
no estado do Rio. Estas são evidencias da disputa entre
Rio e São Paulo, aspecto ressaltado quando se lê
o trecho do trabalho de Alfredo de Carvalho - que, por sinal,
cita o trabalho de Lafayette de Toledo - sobre a situação
da imprensa do estado, em 1908: "actualmente é S.
Paulo o Estado no qual se conta maior numero de typographias
e o jornalismo mais copioso de todo o Brazil, difundido por
noventa e cinco localidades" (Carvalho, 1908, 66).
Quanto
ao texto de Carvalho propriamente, ele, como de praxe, discutirá
o surgimento da imprensa no Brasil: as tentativas holandesas,
refutadas por José Higino Duarte Pereira (1883), na revista
do Instituto Pernambucano. Descreve ainda, com base num provável
erro de interpretação, a existência de uma
tipografia no Recife em 1706, que seria a primeira, ainda que
breve, tipografia a funcionar no país. Mais corretamente
menciona também o caso de Isidoro da Fonseca até
chegar, por fim, ao estabelecimento da Imprensa Régia,
em 1808. O que se segue é a descrição das
realizações da imprensa no Rio e do estabelecimento
da imprensa nas províncias.
A
continuidade da pesquisa sobre a imprensa no Rio mostra a importância
de Max Fleiuss na constituição de uma perspectiva
auto-celebrativa, monárquica e que privilegia o ponto
de vista do Rio na construção "nacional"
da história da imprensa. Chegado a centenários,
Fleiuss afirma que o da Missão Artística impelia-o
a "referir-se, embora ligeiramente, á Caricatura
no Brasil" (Fleiuss, 1917, 587). Neste trabalho, publicado
também na Revista do IHGB, o autor - filho do desenhista
Henrique Fleiuss, proprietário e editor da Semana Ilustrada,
órgão popular no Segundo Reinado - faz inicialmente
considerações sobre a caricatura e o riso, no
mundo todo, depois aborda o caso brasileiro. Refere-se às
manifestações artísticas dos índios,
que logo, porém, releva, pois "a arte, com todos
os seus characteristicos de civilização moderna,
só apparece no Brasil, depois da transmigração
da família real portugueza para o Rio de Janeiro"
(Fleiuss, 1917, 595). Os marcos mais importantes dessa história
serão sempre "oficiais" e baseados na Corte:
a vinda da família real lusitana traz a "civilização"
ao Brasil.
Como
sempre são arrolados periódicos, ilustrados dessa
vez, que apareceram em todo o país. O que é importante
notar quanto a isso é que Fleiuss (1917, 600) afirma,
em relação a alguns dados sobre a imprensa paulista,
que estes eram originais de um trabalho do historiador Afonso
A. de Freitas (1914), trabalho importante que, como veremos,
continua o estudo inventariante de Lafayete de Toledo (1898)
sobre a imprensa em São Paulo. Retenha-se este ponto
para a discussão do próximo trabalho de Fleiuss.
Quanto
a este texto sobre a caricatura ainda, é notável
a boa avaliação do imperador D. Pedro II, que
"embora não raro injustamente alvejado pelo ousado
e desrespeitoso lapis dos caricaturistas mais notáveis"
(Fleiuss, 1917, 607) seria um homem de tolerância exemplar.
O tom ufanista com que o texto é finalizado também
merece a transcrição pela tipicidade:
Honra
principalmente aos caricaturistas brasileiros, synthetizados
em Raul Pederneiras, Calixto Cordeiro e J. Carlos, que não
precisam de pedir licções aos melhores do extrangeiro,
provando que, ainda nesse ponto de vista, muito nos devemos
orgulhar do nosso paiz! (Fleiuss, 1917, 609)
Outro
centenário, dessa vez o da independência em 1922,
dá ensejo ao próximo estudo de Fleiuss sobre a
imprensa, o último texto do grupo da historia da imprensa
brasileira no IHGB, nessa primeira fase de estudos. Trata-se
do verbete "A imprensa no Brasil" que o Instituto
insere em seu Diccionario Histórico, Geographico e Ethographico
do Brasil. Nele Fleiuss nota a ausência da imprensa na
Colônia, mas tenta explicar o fato pela
phobia
das "lettras de imprimir" por parte da realeza absoluta,
[que] não foi característica exclusiva da Monarchia
Lusitana; o horror aos prélos não foi sómente
peculiar ao Brasil-Colonia; observa-se em todas as possessões
americanas, mesmo nas de origem saxonica. (Fleiuss, 1922,
1551)
Como
se vê, o uso de meias-verdades - de fato, houve um receio
do papel da imprensa por parte de monarquias, não obstante,
a cidade do México e o Peru e outras colônias espanholas
e inglesas tiveram prelos bem antes do Brasil - procura justificar,
pelo espírito do tempo, algo que foi bem mais característico
do Império Português (o obscurantismo na colonização)
do que o texto dessa historiografia oficial afirma.
Fleiuss
registra - a partir das informações de Pereira
(1883) - que os holandeses não teriam mesmo introduzido
a imprensa no país, sendo esta introduzida primeiro em
Recife, por "alguem cujo nome a tradição
não guarda", no início do século XVIII.
Aqui ele remete-se à "abalizada opinião de
Alfredo de Carvalho" (Fleiuss, 1922, 1551) - isto, hoje,
como sabe, é questionado. E, outro aspecto importante,
esta data, de qualquer forma, não foi o marco escolhido
pelo IHGB para marcar o centenário da imprensa no Brasil,
mas sim o ano de 1808, com a chegada de D. João e a Imprensa
Régia. Quer dizer a opinião do regional Instituto
pernambucano tinha certo peso, mas não tanto assim.
A
seguir, o autor, nesta primeira parte de seu texto dedica-se
ao periodismo que surge no Rio de Janeiro (cerca de 14 páginas),
arrolando os trabalhos que apareceram, suas tendências
etc. (num tom próximo ao de Moreira de Azevedo e Carvalho,
nos trabalhos já comentados). Uma segunda parte do texto
aborda a introdução e primeiros empreendimentos
tipográficos nas províncias (7 páginas).
Por fim, auto-elogiando o "certame brihantissimo que foi
a Exposição Commemorativa do Primeiro Centenário
da Imprensa Periodica no Brasil, promovido pelo Instituto Histórico
e Geographico Brasileiro" (Fleiuss, 1922, 1571), procura
sumariar os jornais existentes "ao cahir do império,
em 1889 e dos que actualmente apparecem", conforme os dados
levantados pelo autor (no próprio contexto da comemoração
do centenário) e fornecidos a ele por outros pesquisadores.
Esta parte soma cerca de 14 páginas.
O
que esta parte, em específico, tem de interessante é
que não demonstra apenas uma centralidade do Rio, mas
também que subestima a imprensa paulista - provavelmente
o mesmo ocorre com outras províncias. Porém, o
caso de São Paulo é marcante, tendo em visto o
ambiente de disputas entre Institutos e concepções
de história nacional que temos apontado. Ora, o próprio
Fleiuss (1922, 1570) vai reconhecer que o "desenvolvimento
jornalistico paulista intensifica-se, irradia-se prodigiosamente.
Hoje figura S. Paulo como o nucleo de maxima eclosão
das artes graphicas e do Jornalismo brasiliense", fazendo
eco ao relato de Alfredo de Carvalho, de 1908, já citado.
Todavia,
se é claro que Fleiuss trabalha com informações
da pesquisa de Lafayette de Toledo (1898) sobre a imprensa paulista,
neste texto, ignora o trabalho de Freitas (1914), que, como
vimos, ele conhecia. É só isso que justifica que,
na última parte do texto, se dedique a São Paulo
menos espaço que à maioria dos estados. Assim,
se evidencia igualmente como por meio da manipulação
e omissão de dados - que esta historiografia privilegia
como índice da desejável (para esta concepção
de história) neutralidade do investigador - logra-se
construir uma narrativa fortemente local da imprensa no Brasil,
com base no Rio. Os paulistas, com outras estratégias,
mas métodos similares, tentariam narrar uma outra "história
nacional".
A
pesquisa sobre a imprensa no IHGSP: "Paulicéa [...]
obra maravilhosa de que só é capaz a geração
que sente ainda pulsar-lhe nas artérias o sangue do bandeirante"
(3)
|
|
Imagem
3:
Capa e página do miolo do estudo matricial, de
Lafayette de Toledo (1898), dentro da concepção
inventariante da história da imprensa feita na
época.
|
-
Vamos á casa do dr. Affonso de Freitas?
Do
Presidente do Instituto Historico e Geographico de São
Paulo?
E fomos. Era lá na rua Dr. Capote Valente, num recanto
muito proprio para quem reconstrue éras passadas e
tempos idos.
Quando
apareceu tive para comigo esta expressão: É
paulista e da gemma!
Bueno
(1931, 43)
O
possível primeiro estudo sobre a imprensa paulista(4)
foi escrito por Lafayete de Toledo (1898), que era jornalista,
tendo atuado em muitos jornais do interior de São Paulo
e também da capital - como o Diário Popular, onde
publicou inicialmente seu estudo. Depois disso, incorporou críticas
e comentários de leitores, que havia sugerido que lhe
fossem enviadas, quando fossem observadas omissões, e
o trabalho foi publicado na Revista do IHGSP.
Esse aspecto, aliado ao seu conhecimento do meio jornalístico
de São Paulo, parece contribuir para a extensão
desse inventário da imprensa periódica paulista
entre 1827-1896, que constitui a segunda parte do texto. São
listados nada menos do que 1.536 jornais, revistas e periódicos,
organizados num sistema que combina ordem alfabética
com uma cronologia de fundação. Parte dos periódicos
recebe comentários, sobre duração, motivações
políticas, tendências etc., infelizmente não
há dados sobre tiragens. É, em termos da pesquisa
inventariante que marca o início do estudo imprensa então,
o trabalho matricial. Feito antes da edição comemorativa
do Centenário da imprensa feita pela revista do IHGB
que, como dissemos, ignora-o.
Imagem
4 Detalhe da primeira página
e cabeçalho do miolo de trabalho de Afonso de
Freitas, no qual a imprensa paulista transforma-se em
"imprensa brasileira".
|
|
É
nessa perspectiva - da diminuição, quase exclusão,
de São Paulo do panorama nacional - que podemos perceber
o primeiro trabalho de Afonso de Freitas (1914) sobre a imprensa
como uma espécie de resposta simbólica do grupo
paulista ao carioca. Afirmação da capacidade paulista
de superar dificuldades, "má vontade" do poder
central, e mostrar-se superior em realizações
aos demais estados do país.
Freitas
continua o trabalho de Toledo (1898) e outro de Martins (1912)
- este voltado exclusivamente para as iniciativas da imprensa
paulistana até 1893. A pesquisa, porém, não
é uma resposta explícita, não configura
uma polêmica direta com o IHGB(5), mas parece tentar demonstrar,
já na sua dimensão quantitativa - o trabalho possui
815 páginas, mais que toda a Revista do IHGB sobre Centenário
brasileiro -, a importância e "peculiaridade"
paulista e de sua imprensa, dentro da federação.
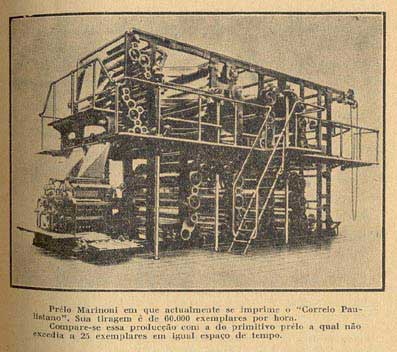 |
Imagem
5 Ilustração de
um dos trabalhos de Afonso de Freitas, que demonstra a
preocupação em caracterizar a pujança
da imprensa paulista já nas primeiras décadas
do século XX.
|
Outro
aspecto a notar é que Freitas era um historiador em ascensão,
quando publicou este trabalho, que galgaria todos os postos
importantes no IHGSP até tornar-se presidente do mesmo,
de 1921 a 1930, quando morre. Isto é, entendida como
"resposta" de um grupo a outro, não era dada
por um elemento qualquer. Ele também publicaria outros
trabalhos sobre a imprensa paulista, uma memória do Correio
Paulistano em 1831, uma complementação ao trabalho
que discutiremos adiante e um texto de conferência sobre
o primeiro centenário da imprensa paulista (respectivamente,
Freitas, 1915, 1928[6], 1928a).
Tal
interesse quanto à impressa paulista é parte do
esforço de valorização das características
e conquistas do estado, levado a cabo pelo IHGSP. Assim, a preocupação
em estudá-la já aparece numa lista de assuntos
aprovados pelo Instituto, em 1895 (vide RIHGSP, 1895 apud Schwarcz,
1993, 129).
Um
outro aspecto, especificamente de conteúdo do texto de
Freitas chama ainda a atenção: os elementos discursivos
ligados à criação do que designaremos de
"mito da fundação"(7) da imprensa paulista.
O trabalho elabora uma narração de origem (inexistente
em Toledo e Martins) desta imprensa, que tenderá a fixar-se
e ser perpetuada pelos trabalhos que lhe seguem (Freitas Nobre,
1950, Duarte, 1957/1972, Oliveira, 1978; em versão romanesca:
Schmidt, 1954). Enquanto Toledo e Martins iniciam seu relato
com o início de O Farol Paulistano, sem mais, Freitas
irá estender-se, por um lado, nas dificuldades encontradas
para a implantação da tipografia em São
Paulo. De outro, resgatará uma experiência de jornal
manuscrito, O Paulista, anterior a O Farol.
 |
Imagem
6
Afonso de Freitas, cuja historiografia marcadamente paulista
envolveu estudos sobre outros aspectos de São Paulo,
além da imprensa, como as populações
indígenas locais e estripes paulistanas. Publicou
ainda, em 1921, o livro Tradições e reminiscências
paulistanas, continuamente reeditado.
|
Da
longa e documentada descrição das iniciativas
junto à Corte para introdução da imprensa
em São Paulo, vale notar o explícito destaque
ao papel de São Paulo na independência, conforme
o relato, pois a possível tipografia estaria relacionada
à
magnificancia
imperial [que] parecia pretender pagar a dívida contrahida
com os Paulistas pela acção decisiva de S. Paulo
na modorrenta questão da fundação do
império pelos Bragança, que so teve solução
nos campos do Ypiranga por sáfaro ser então
o terreno de acção político-nacionalista
do Rio de Janeiro e Minas Geraes, mau grado os ingênuos
esforços [...], no baldado intento que das encostas
da velha cidade de Ouro Preto partisse o brado de independência.
(Freitas, 1914, 330)
O
jogo burocrático de protelações para o
envio da tipografia descrito, a partir da "leitura de quantos
papeis relativos ao assunto no chegaram ás mãos",
mostra, segundo Freitas (1914, 333), "o pouco empenho dos
dirigentes do primeiro império em se tornarem agradáveis
e em fazerem justiça aos Paulistas". Em continuidade
a esse esforço inútil é que se engata o
surgimento do jornal manuscrito O Paulista, em 1823. Criado
a partir de um "Plano de estabelecimento patriotico destinado
a supprir a falta de uma Typographia", por um professor
de gramática e retórica muito jovem - o "mestrinho"
- apoiado pela alta administração da província,
o jornal bi-semanário aparentemente não dura muito
(talvez dois meses), porém, parece provar, conforme o
relato de Freitas, a capacidade paulista para superar dificuldades,
daí sua valorização.
É com O Paulista, pois, que o autor começa sua
longa e minuciosa relação dos periódicos
editados em São Paulo até 1914. Ao Paulista, e
a um intervalo nas tentativas de introduzir uma tipografia,
chega-se a 1827 quando esta é implantada finalmente em
São Paulo - graças a um particular, não
à ajuda da Capital. E a este marco segue-se um aluvião
de periódicos, um progresso da imprensa em São
Paulo, que faria com que ela fosse, em 1914,
indiscutivelmente
a mais desenvolvida de todas as das outras circumscripções
brasileiras, apresenta todas as caracteristicas do mais adiantado
jornalismo e amplamente satisfeitas as necessidades e as exigencias
da sociedade moderna em que o progresso da civilização
transformou o velho e lendario dominio dos bandeirantes. (Freitas,
1914, 341, grifo nosso)
O
mito de fundação da imprensa paulista, ou seja,
o relato da criação da mesma conforme produzido
por Freitas (1914), procura significar a capacidade, tenacidade
e liderança de São Paulo - não por acaso,
ele articula-se ao tema da independência, com papel de
destaque para a então província. "Tratava-se",
dessa forma, como nota Schwarcz (1993, 123-4), "de ir buscar
no passado fatos e vultos da história do estado que fossem
representativos para constituir uma historiografia marcadamente
paulista, mas que desse conta do país como um todo".
Outro
aspecto que deixa clara as diferentes concepções
entre IHGB e IHGSP sobre o Brasil é quanto ao papel da
monarquia. Na primeira parte do trabalho de Freitas ora discutido,
a que antecede ao catálogo de periódicos, a interpretação
da história feita pelo autor mostra-se crítica
ao "antigo regime", e por extensão ao período
joanino. Sua análise tem uma perspectiva negativa (ainda
que relativizada por reconhecer as melhorias que o Brasil ganha
com a administração joanina) à "despótica
administração colonial", até pouco
antes da independência, ponto que não é
comum entre os autores do IHGB. Ou seja, a história via
IHGSP passava centralmente não apenas por São
Paulo, mas também pela República.
Vale,
por fim, observar que uma interpretação como é
feita sobre a pesquisa em São Paulo talvez nos ajude
a rever a própria história do pré-jornalismo
no Brasil, pois um dos aspectos usados para construir o mito
de fundação da mesma - a existência de um
jornal manuscrito - não parece ser uma peculiaridade
paulista. Porém, não é uma questão
que ganha relevância nos trabalhos de outros historiadores
da época em outras regiões - e nem até
hoje. Ganhou em São Paulo, devido ao papel que poderia
assumir para construir o mito, e sugere mesmo uma linha de investigação.
Não se ignoram, as menções a panfletos
e folhetos manuscritos, descritos em histórias da imprensa,
porém, acreditamos ser provável que tenham existido
outros jornais como O Paulista, não destacados em função
do olhar que privilegia, como símbolo de civilização,
a implantação da imprensa nas províncias.
Perspectiva, por sinal, construída no período
analisado aqui.
Conclusão
Ao
falar sobre a "elite paulista" de meados dos anos
1930, Lévi-Strauss (1996, 95) nota que ela formava uma
flora "mais exótica do que se imaginava", que
se pensava cosmopolita, mas não sabia o quanto era típica.
Os historiadores de nossa imprensa do período aqui analisado
parecem ter uma posição análoga: pretendem
redigir a historia "nacional", mas não superam
os localismos - no pior, acabam servindo a projetos de diferentes
oligarquias. Num tempo de baixíssima diferenciação
e autonomização do trabalho intelectual, seria
difícil esperar mais. De qualquer forma, ainda que muitos
elementos dos Institutos tenham sido os primeiros catedráticos
de nossas universidades, o padrão do trabalho intelectual
subiria a ponto de superar o modelo dos IHs, bem como sua concepção
de história. Chega a ser sintomático que, em 1923,
num dos trabalhos muito característicos e comuns aos
IHs, uma Revista do IHGB que enfoca as "antiqualhas"
(aspectos antigos e pitorescos de uma localidade) do Rio de
Janeiro tenha por verbete os "Institutos Históricos"
(RIHGB, Tomo 9, vol. 147, 182-5).
Caberia,
em outra oportunidade, avaliar a herança da pesquisa
dessa pioneira em Comunicação, em termos mais
específicos sobre seus possíveis significados
para a área hoje. Assim como, desenvolver o tema quanto
a outros Institutos - aspecto que reforçaria o argumento
principal do texto. A primeira questão fica reservada
ao futuro. Já quanto ao segundo ponto é possível
comentar, preliminarmente, sobre a pesquisa do Instituto Pernambucano,
que, menos do que a historiografia da imprensa, o que interessava
era a investigação do período holandês
(nada menos que 51% dos artigos da revista do IAGP entre 1863
a 1930 são dedicados ao tema, conforme Schwarcz, 1993,
120) para ressaltar a atitude "valente e patriota"
dos pernambucanos ao expulsá-los.
Por
isso, não deve ter sido sem contentamento que se chegou
aos resultados de que não houve imprensa no período
de dominação holandesa (Pereira, 1883; como típica
investigação regional este trabalho aparecerá
na Revista do IAGP e não na do IHGB). Ao mesmo tempo,
Alfredo de Carvalho (1908), como vimos, reivindicará
a prioridade da introdução da imprensa no Brasil
para Pernambuco, no início do século XVIII. Como
se sabe, até hoje não foram encontradas provas
consistentes dessa tipografia. Já Minas poderá
respaldar um pioneirismo a partir do padre Viegas, que imprimiu
um pequeno opúsculo utilizando a calcografia, em 1807,
um ano antes da introdução da tipografia por meio
da Imprensa Régia (Veiga, 1897 apud Barbosa, 1902, 245-7).
Referências
bibliográficas
AZEVEDO,
Manoel Duarte Moreira de. 1865. Origens e desenvolvimento da
imprensa no Rio de Janeiro. RIHGB, Tomo 28, Rio de Janeiro,
pp. 169-224.
BARBOSA,
A. da Cunha. 1902. Origem e desenvolvimento da imprensa colonial
brazileira. RIHGB, Tomo LXIII, Rio de Janeiro, pp. 239-262.
BARTHES,
Roland. 1975. Mitologias. São Paulo, Difel, 2ª.
ed.
BUENO,
Silveira. 1931. Perfil do Dr. Affonso Antonio de Freitas. RIHGSP,
São Paulo, vol. 28, pp. 43-45.
CAMPOS,
Tullio de. 1900. Evaristo Ferreira da Veiga (Commemoração
Historica). RIHGSP, São Paulo, vol. V.
CARVALHO,
Alfredo de. 1908. Genese e progresso da imprensa periódica
no Brazil. RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo consagrado à Exposição
Comemorativa do Primeiro Centenário da Imprensa Periódica
no Brasil, pp. 3-71.
CERRI,
Luis Fernando. 1998. Non ducor, duco: a ideologia da paulistanidade
e a escola. Revista Brasileira de História. Vol. 18,
n. 36, São Paulo. Disponível em www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881998000200007&Ing=en&nrm=isso.
COSTA,
F. A. Pereira da. 1891. Estabelecimento e desenvolvimento da
imprensa em Pernambuco. RIAGPE, Recife, Tomo 39.
DUARTE,
Paulo. 1972 (1ª. Ed: 1957). História da imprensa
em São Paulo. São Paulo, ECA/USP.
FARIA,
Julio Cezar. 1931. Discurso. RIHGSP, São Paulo, vol.
28, pp. 15-31.
FLEIUSS,
Max. 1922. A imprensa no Brasil. In: Diccionario Histórico,
Geographico e Ethographico do Brasil, vol. 2, Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional, pp. 1550-1585.
______________.
1916. A caricatura no Brasil. RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo 80,
pp. 587-609.
FREITAS,
Affonso A. de. 1914. A imprensa periódica de São
Paulo. RIHGSP, São Paulo, vol. XIX, pp. 321-1136.
______________.
1915. O "Correio Paulistano" em 1831. RIHGSP, vol.
XX, pp. 391-399.
______________.
1928. O primeiro centenário da fundação
da imprensa paulista. RIHGSP, São Paulo, vol. XXV, pp.
5-42.
______________.
1928a. Notas à margem do estudo "A imprensa periódica".
RIHGSP, São Paulo, vol. XXV, pp. 445-490.
FREITAS
NOBRE, José. 1950. História da imprensa de São
Paulo. São Paulo, Edições Leia.
FURTADO,
Alcebíades. 1912. Biographia de Hippolito José
da Costa Pereira Furtado de Mendonça. RIHGSP, São
Paulo, vol. XVII, pp. 205-240.
GUIMARÃES,
Manoel Luís Salgado. 1988. Nação e civilização
nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Estudos
Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, pp. 5-27. Disponível
em www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/26.pdf.
LESSA,
Pedro Augusto Carneiro. 1912. João Francisco Lisboa.
RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo XX, pp. 65-97.
LÈVI-STRAUSS,
Claude. 1996. Tristes trópicos. São Paulo, Companhia
das Letras.
LUCA,
Tânia Regina de. 1999. A Revista do Brasil: um diagnóstico
para a (N)ação. São Paulo, Ed. UNESP.
MAGALHÃES,
José Vieira Couto de. 1931. Discurso. RIHGSP, São
Paulo, vol. 28, pp. 35-39.
MARQUES,
César Augusto. 1888. História da imprensa do Maranhão
[segunda parte]. RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo LI, pp. 167-220.
____________.
1878. História da imprensa em Maranhão [primeira
parte]. RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo XLI, pp. 129-225.
MARTINS,
Antonio Egydio. 1912. Jornaes e jornalistas. RIHGSP, São
Paulo, vol. XVII, pp. 105-128.
MELLO,
Homem de. 1872. Biographia dos brasileiros illustres por armas,
letras, virtudes, etc.: Hyppolito José da Costa Pereira.
RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo 45, pp. 203-246.
MORSE,
Richard. 1954. De comunidade a metrópole: biografia de
São Paulo. São Paulo, Comissão do IV Centenário.
MOUTINHO,
Jessita Maria Nogueira. 1991. A paulistanidade revista: algumas
reflexões sobre um discurso político. Tempo Social;
Rev. Sociol. USP, São Paulo, vol. 3 n.1-2, pp. 109-117.
OLIVEIRA,
João Gualberto. 1978. Nascimento da imprensa paulista.
São Paulo, Gráfica Sangirard.
PEREIRA,
José Higino Duarte. 1883. Advertencia. RIAGPE, Recife,
n. 28.
PERDIGÃO,
João Baptista de Oliveira. 1897. A imprensa do Ceará.
RIHGCE, Fortaleza, 2º. Trimestre.
SCHMIDT,
Afonso. 1954. São Paulo dos meus amores. São Paulo,
Clube do Livro.
SCHWARZC,
Lilia Moritz. 2001. O nascimento dos Museus brasileiros (1870-1910).
In: MICELI, Sergio (org.). História das Ciências
Sociais no Brasil. São Paulo, Sumaré, pp. 29-90.
____________.
1993. Os Institutos Históricos e Geográficos:
"guardiões da história oficial". In:
O espetáculo das raças. São Paulo, Companhia
das Letras, pp. 99-140.
SENNA,
Ernesto. A Imprensa Régia. 1911. RIHGSP, São Paulo,
vol. XIII, pp. 41-60.
SILVA,
Argemiro da. 1892. Alguns apontamentos biográficos de
Líbero Badaró. RIHGB, Tomo LIII, Rio de Janeiro,
pp. 309-384.
SILVA,
Nicoláo Duarte. 1930. Líbero Badaró: contribuição
à sua biografia. RIHGSP, São Paulo, vol. XXVIII,
pp. 463-577.
SODRÉ,
Nelson Werneck. 1966. História da imprensa no Brasil.
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
TOLEDO,
Lafayette de. 1898. Imprensa paulista. RIHGSP, São Paulo,
vol. III, pp. 303-521.
VAMPRÉ,
Spencer. 1931. Discurso. RIHGSP, São Paulo, vol. 28,
pp. 9-11.
VEIGA,
J. P. Xavier da, 1897. A imprensa em Minas Geraes. Jornal do
Commercio, Rio de Janeiro, junho.
Notas:
(1)
Conservamos nas citações a ortografia da época.
(2)
Conforme o levantamento mostrado por Schwarcz (1993), nas revistas
entre 1838 e 1938, predominam, correspondendo quase à
metade do material, os estudos históricos, seguidos por
discussões geográficas, entre elas sobre os limites
e fronteiras do país (18%) e, em terceiro lugar, vem
as biografias dos "grandes vultos" da história
pátria, bem como biografias (pequenos artigos) dos próprios
membros do Instituto, num azeitado mecanismo de auto-consagração,
conjunto que soma 16% dos trabalhos publicados na revista. Vale
a pena notar que Hipólito da Costa será um dos
biografados (Mello, 1872), na Revista do IHGB. Neste trabalho
se destaca justamente sua atividade como "escritor público",
ou seja, a atuação de Hipólito no Correio
Braziliense. Outros homens com atuação na imprensa
recebem também biografias, como João Francisco
Lisboa (Lessa, 1912) e Libero Badaró (Silva, 1890), a
vida deste jornalista, mereceu uma biografia também na
revista do IHGSP (Silva, 19930), o mesmo ocorre com Hipólito
da Costa (Furtado, 1912) e Evaristo da Veiga (Campos, 1900).
(3)
Magalhães (1931, 38), o trecho é de um discurso
publicado na Revista do IHGSP em memória do historiador,
então recentemente falecido, Afonso de Freitas, e ressalta
a preocupação da obra do estudioso com a "Paulicéa".
(4)
Richard Morse (1954, 58 e 308) faz referência a um trabalho
da Comissão de Redação do Instituto Histórico
(Brasileiro?) chamado Imprensa em São Paulo - a primeira
tipografia, que não é datado, porém. Encontra-se
em microfilme no IHGB.
(5)
É possível, porém, que exista uma remissão
direta, hoje não muita clara, a disputas deste tipo,
quando na última página do trabalho Freitas insere
uma "Explicação", na qual nota que,
fora alguns poucos documentos cedidos por Alfredo de Toledo,
"tudo o mais, o delineamento, bom ou máu do nosso
trabalho, o rebasamento da materia, os conhecimentos e doutrinas
expandidos - na Introducção - e em todo o corpo
da obra etc etc, são productos do nosso esforço
e saber, exclusivamente do nosso esforço e saber"
(Freitas, 1914, 1136).
(6)
Quanto a este texto é interessante notar a espécie
de "ato falho" (ou provocação) que é
a inserção de um cabeçalho, em todas as
páginas, exceto a primeira, onde se lê "Fundação
da Imprensa Brasileira". A intercambialidade entre paulista
e brasileiro é uma das expressões desse regionalismo
do IHGSP.
(7)
O mito aqui é pensado não como uma narrativa necessariamente
falsa, sem ancoragem empírica, o que o caracteriza é
antes ser uma "fala definida por sua intenção"
(Barthes, 1975, 145). No caso, a intencionalidade da demonstração
da capacidade paulista, como veremos.
*Richard
Romancin é doutorando na ECA/USP.
Voltar
|

