"Notícias
Diversas"
Apontamentos
para a história
do fait divers no Brasil
Por Valéria Guimarães*
Às
vésperas do Natal do ano de 1910, no dia 8 de dezembro,
o leitor de um dos maiores jornais paulistanos, O Estado
de S.Paulo, podia ler nas suas últimas páginas
a notícia que segue abaixo transcrita.
Os
Desesperados
Uma rapariga que tenta suicidar-se, ingerindo querosene
e alvaiade [1]
Maria
dos Santos é o nome de uma rapariga de cor preta, que
reside à rua Joaquim Nabuco, 18. Maria há muito
enamorara-se perdidamente de um caboclo espadaúdo,
possuidor de fortes bigodes e cabeleira encaracolada. João
- assim se chama ele - correspondeu durante alguns meses à
afeição que lhe dedicava a rapariga e, diariamente
ia visitá-la, acompanhando-a a diversos cinemas no
bairro do Brás. Estavam as coisas neste pé,
quando João conheceu outra rapariga, a quem principiou
a cortejar. Maria soube do caso e enfureceu-se, fazendo-lhe
ver o seu procedimento incorreto, enganando as duas mulheres
ao mesmo tempo. João, que já se havia aborrecido
dela, achou magnífico o pretexto para acabar com aquilo,
e assim o fez. A infeliz Maria, desesperada com o procedimento
do seu namorado, ficou muito triste e escreveu-lhe diversas
cartas chamando-o, suplicando-lhe que não fosse tão
ingrato, que tivesse pena dela, e que se não atendesse
a seus rogos, matar-se-ia. João, seriamente preocupado
com sua nova apaixonada, não ligou importância
ao caso. Maria esperou debalde alguns dias e, vendo que ele
não mais a queria, resolveu por em prática o
que prometera. Assim é, que ontem à tarde, recolheu-se
a seu quarto e encheu um copo de querosene. Em seguida, adicionou-lhe
uma boa porção de alvaiade em pó, ingerindo
tudo de um trago. Momentos depois principiou a gritar desesperadamente,
alarmando os vizinhos, que correram a comunicar o que se passara
à polícia do Brás, comparecendo ao local
o capitão Ancede, primeiro subdelegado, acompanhado
do sr. dr. Marcondes Machado que fez os primeiros curativos.
Maria, cujo estado foi considerado grave, ficou em tratamento
em sua casa. [2]
O
título da reportagem salta aos olhos no meio de outras
tantas notícias: "Os Desesperados".
Este
era um dos títulos normalmente usados pelo O Estado
de S.Paulo para notícias de suicídios por
amor. O leitor familiarizado com o jornal tinha nele uma identificação
imediata do assunto a ser tratado. Talvez ao percorrer as páginas
do periódico seu olhar se detivesse nesta notícia,
atraído pela manchete que, de antemão, revelava
seu conteúdo: mais um suicídio por amor ocorria
na cidade. Sendo atento, certamente sabia que com o passar dos
anos estas notícias de suicídios por amor se tornavam
mais comuns.
Era
só ir folheando o jornal até chegar na seção
Notícias Diversas colocada em destaque antes dos
anúncios e depois das notícias de conteúdo
informativo chamadas de Telegramas. Neste caso o drama
era de Maria e João. No dia seguinte "Os Desesperados"
seriam outros, como outros existiram nos dias anteriores.
A
história da crônica acima é, em resumo,
a história de Maria dos Santos que sofria pelo abandono
e tentou se matar por amor. Levando em conta que a imprensa
paulistana podia ser considerada um espaço para debates
centrais na época estudada [3] e que o período
escolhido no recorte é de definição das
feições da República recém-instaurada,
esta notícia deve trazer nas entrelinhas algo mais sobre
a sensibilidade de uma época.
Uma
história contada sempre em terceira pessoa, onde é
sempre o outro que se mata, traçando uma linha
imaginária que coloca o jornalista e quem lê de
um lado e os suicidas ou "eles", "os desesperados",
do outro - uma distância afirmada entre eu e ele,
entre o aqui e o lá. [4]
Deste
"outro", a primeira coisa destacada pelo cronista
é a cor da pele: a "rapariga de cor preta".
Esta menção não é gratuita. Designa
o lugar que Maria ocupava na sociedade, denota a condição
social de uma pessoa pobre, o que é confirmado pelo endereço
dado a seguir, rua Joaquim Nabuco, na parte mais pobre do bairro
do Brás. A distância social é traduzida
na distância física imposta pela aparência
do corpo e pela topografia da cidade, que separava negros e
brancos, bairros de elite de bairros de pobres. Até meados
do século XIX, o Brás não passava de um
conjunto de chácaras, algumas pertencentes à gente
abastada como a Marquesa de Santos.
Em
1874, na gestão do Presidente de Província João
Teodoro Xavier (1872-1875), começa a ser arruado e a
região, drenada. Mas, ainda em 1910, na época
em que foi publicada a notícia sobre a tentativa de suicídio
de Maria, o Brás era assolado pelas enchentes da Várzea
do Carmo. Localizado na Zona Leste da capital, desde o final
do século XIX era conhecido por ser área fabril.
[5]
Entre
1900 e 1910 algumas de suas principais ruas foram pavimentadas,
o que fazia parte dos preparativos para receber a energia elétrica,
os novos bondes, também elétricos, e valorizar
os loteamentos que deveriam ser vendidos com vantagem. [6]
Era
separado do centro da cidade por esta área alagadiça
conhecida como Várzea do Carmo, reduto de insalubridade,
onde o mato crescia e o lixo era jogado. Mesmo com as reformas
urbanas que começavam a ocorrer, os problemas das enchentes
não se solucionavam. A principal avenida do Brás
era a Rangel Pestana e, por este motivo, era um pouco mais tratada
que o entorno. Por ela passavam os bondes elétricos que
faziam ponto final no Brás, Belém e Penha e as
linhas de trem da São Paulo Railway a cruzavam na altura
da Várzea do Carmo.
E
era justamente neste trecho em que morava a "preta"
Maria, a poucos metros da Rangel Pestana, da rua do Gasômetro,
que fazia ligação com o centro, e do Largo da
Concórdia. Jacob Penteado que morava não muito
longe dali, por volta de 1910, na rua Benjamim de Oliveira,
lembra que "Qualquer pancada de chuva inundava-a (...)
Muitas vezes, a água chegava até o peitoril da
janela." [7]
A
região da Várzea do Carmo era "então
cheia de valetas, lagoas e mato bem alto. À noite era
perigoso passar por ali, devido aos marginais que pernoitavam
nas moitas." [8] Era toda uma área que
não era bairro, embora pessoas dormissem ali, como testemunha
o autor, pertencente a uma família italiana pobre. E
isso caracterizou os arredores como lugar lúgubre, com
habitações coletivas e improvisadas e sujeita
a enchentes.
Enquanto
isso o bairro do Brás era urbanizado tendo recebido imigrantes
italianos em abundância. Esta zona de transição
que incluía a rua Joaquim Nabuco continuava precária
concentrando a população mais pobre, na sua maioria
negros, trocadilho irônico com o nome da rua. Nele "construíram-se
fábricas, chaminés por toda a parte, a forja,
o malho, os teares, os motores, os dínamos." [9]
Isso
fez com que o Brás ficasse conhecido como bairro italiano
embora a presença de negros também fosse maciça.
Após a abolição da escravatura em 1888,
a cidade se mostrou destino possível, onde a demanda
por serviços atraía essa população
abandonada à própria sorte.
O
Brás aos poucos passa a ser identificado com a modernidade
da indústria, enquanto que a Várzea do Carmo é
vista como bolsão de miséria que impede a cidade
de ser moderna.
As
imediações da Várzea eram ainda piores
que lugares como o Brás, cujas ruas não tinham
calçamento e onde, com exceção das vias
principais, não havia fornecimento de energia elétrica
ou outros serviços, eram habitados por este contingente
cada vez mais numeroso que se dirigia à cidade em busca
de alguma chance de sobrevivência. [10]
Abrigando
casas modestas, não raro coletivas, avizinhadas de chaminés
fumegantes e fumacentas que impregnavam o ar, este bairro tinha
entre seus índices uma das maiores taxas de mortalidade
infantil da capital do café. [11]
Suas
ruas eram muito movimentadas, sobretudo nas proximidades da
casa de Maria, que ficava ao lado da Central do Brasil [12]
e próxima à hospedaria dos Imigrantes, motivo
pelo qual havia várias pensões na região.
[13]
Parece
clara a intenção do cronista em traçar
uma ligação entre a cor da pele, a pobreza e o
lugar que Maria ocupava na cidade, como se estes fatores tivessem
uma relação direta. Este é um dos traços
característicos do jornal O Estado de S.Paulo:
ser, assumidamente, o porta-voz das novas teorias da época
que relacionavam os valores de progresso e civilização
com o determinismo então corrente, o qual estabelecia
uma ponte entre herança genética e traço
de caráter, incluindo aí a posição
social ocupada pela pessoa, conseqüência de sua inaptidão
e inferioridade inatas. [14]
Na
continuação de nossa crônica, a descrição
de João não é menos instrutiva: ele é
descrito como caboclo, o que equivalia a dizer que não
era branco, era de uma "raça inferior". Assim
como Maria, seu lugar na sociedade ficava calcado na qualidade
de mestiço que lhe era atribuída.
O
termo "caboclo" era empregado comumente, na época,
como sinônimo de indígena, por sua vez vistos como
o último lugar na escala racial, o protótipo do
selvagem.
Por
volta de 1840, o diplomata piemontês A. Alloat esteve
na corte de D. Pedro II, no Rio de Janeiro, quando descreve
"A Imagem dos Negros e dos Índios no Ambiente da
Corte" e ao se referir ao processo de "civilização"
dos índios Botocudos diz:
Alguns
caboclos já foram empregados na Marinha Imperial, e
creio que nela haveria um maior número se fossem mais
bem tratados, mas acostumados aqui, a crer que o melhor tratamento
é o chicote, ele é empregado indistintamente
contra todos, o que é causa de que nenhum marinheiro
estrangeiro queira se engajar; e assim, as equipagens da Marinha
Imperial são compostas do rebotalho da sociedade, que
é arrebanhado à força. [15]
Ele
se refere aos indígenas como "caboclos" e "rebotalho
da sociedade", obrigados ao trabalho duro da Marinha na
base da violência física e do chicote, expediente
corriqueiro no processo de "civilização"
empreendido pelos colonizadores portugueses.
Euclides
da Cunha em Os Sertões, cerca de um século
depois ainda se referia aos indígenas e seus descendentes
como caboclos. O termo "caboclo", portanto, equivalia
a "índio", e não apenas "mestiço
de branco e índio". Tinha um sentido extremamente
pejorativo na época. [16]
João,
"caboclo espadaúdo" - que quer dizer o que
tem espáduas largas; largo de ombros - possuidor de fortes
bigodes, ou seja, fisicamente forte e viril, traduz a imagem
de um trabalhador braçal tal qual seus remotos antepassados.
Ele podia ser o indígena aculturado que vinha para a
cidade servir de mão-de-obra barata, engrossando a parcela
dos baixos extratos sociais, ou mesmo um mestiço, cafuzo,
visto sua "cabeleira encaracolada".
Um
ou outro, índio ou mestiço, faziam parte de tudo
aquilo que a alta sociedade repugnava como inferior ou selvagem.
Ele era visto como sujeito sem caráter, sendo estabelecida
uma relação entre sua aparência e as atitudes
vis praticadas contra sua namorada, traindo-a. Sua condenação
como degenerado será a marca das discussões sobre
raça e nação nesta época, aliás,
conceitos que se confundiam no pensamento erudito local.
Parte
da opinião pública alimentava perspectivas bastante
negativas com a mestiçagem, sobretudo até o 1900.
Tomava-se como certo o resultado degenerativo desse processo
para a constituição da população
brasileira, onde o elemento negro dominaria, nos relegando definitivamente
aos mais baixos degraus na escala da evolução.
Aos poucos a discussão abre espaço para o otimismo
que cercava a idéia de branqueamento, ou seja, para a
possibilidade de uma mestiçagem regenerativa, que nada
mais era que a tentativa de adaptação do racismo
europeu às particularidades locais. [17]
Nesta
e em outras crônicas publicadas em O Estado de S.Paulo
estavam presentes várias facetas deste imaginário
que fazia circular discussões e polêmicas sobre
a questão da constituição da raça
brasileira e suas implicações sociais, ainda que
de maneira subliminar.
Continuando
a narrativa, o cronista traz para o leitor um pouco de cenas
cotidianas de intimidade: um namoro, o passeio nos cinemas,
a traição de João, a fúria de Maria.
Assim ele segue, sempre levando seu leitor a emoções
sucessivas causadas pelo antagonismo dos sentimentos em jogo,
como num folhetim, como num filme.
Quando
ele diz que "João correspondeu durante alguns meses
à afeição que lhe dedicava a rapariga"
mostra que a relação entre o casal era algo passageiro,
sem compromisso, tendo ido além da expectativa já
que João dedicava afeição à "rapariga"
e "diariamente ia visitá-la, acompanhando-a a diversos
cinemas no bairro do Brás".
Não
era um namoro. Maria e João tinham um "caso"
e ir aos cinemas de bairros pobres como era o Brás queria
dizer que João levava Maria a um lugar escuro, onde seus
corpos poderiam ficar mais próximos do que a moral conservadora
da época permitia, sujeitos à magia sensual da
irradiação das imagens gigantescas na tela, lugar
de lascívia e bolinação.
Os
cinemas nesta época eram improvisados em barracões
de zinco com "cadeirinha dobráveis, tipo cervejaria".
[18] Jacob Penteado ia "assistir cinema, então,
ainda grande novidade" no Teatro Colombo, no mesmo Brás
que circulavam os personagens de nossa crônica de tentativa
de suicídio por amor.
As
películas ali apresentadas eram interessantes. À
guisa de cinema sonoro, viam-se cenas onde aparecia um tenor,
trajado a caráter, cantando trechos de óperas,
mas a voz vinha de um fonógrafo, situado atrás
da tela. Pagava-se duzentos réis, na "galinheiro",
e quinhentos réis (adultos), na platéia. [19]
O
mesmo memorialista comenta a inauguração de outro
cinema, o Cinema Belém, no início da década
de dez, como uma verdadeira festa pública "um acontecimento
sensacional para a época". [20] Com a fachada
do barracão de zinco decorada com "lâmpada
multicores e uma estridente campainha ao alto, que trilava sem
cessar", [21] uma "furiosa" tocando
valsas para a "seleta assistência" que iniciou
"furioso rebolado, ali mesmo, na calçada".
[22]
As
sessões eram corridas, com várias exibições
de filmes na sua maioria franceses, de natureza variada: comédias,
musicais, ficção científica como o "Viagem
à Lua" de Melies, [23] filmes de amor como
"Delírio de Amor", dramas e crimes. No cinema
aconteciam também espetáculos circenses e de variedades.
O
Cinema Belém não apresentava apenas filmes.
Eram comuns os espetáculos de variedade, com artistas
de toda espécie. Lembro-me de Pimpinella, "soubrette"
(hoje seria vedeta) italiana que, com seu charme e trejeitos,
levou à falência um jovem negociante sírio,
estabelecido na esquina da Avenida Celso Garcia com a rua
Dr. Clementino, o qual, por ela, fez loucuras e acabou falando
sozinho. Amaram-se durante alguns meses e algumas dezenas
de contos, como diria nosso velho Machado de Assis. [24]
Estes
cinemas de bairro como os que Jacob Penteado e nossos João
e Maria freqüentavam cobravam ingressos mais baratos que
os cinemas do centro da cidade e que as entradas de grandes
teatros, freqüentados em sua maioria pelos abastados. Apenas
alguns destes, incluindo o Belém e o Colombo, tinham
acompanhamento musical.
Tocava-se
mazurca, para as fitas naturais; polca ou maxixe, para as
cômicas, e uma valsa bem langorosa, triste, chorosa,
para os dramas. [25]
Ir
ao cinema, portanto, consistia em um programa muito popular.
Seu encanto desbancou a fotografia e outras técnicas
que o precederam com a intenção de recuperar a
aparência de realidade da imagem vista em profundidade
como a fotografia em três dimensões. Esta última
havia virado moda, circulando, inclusive, em cartões-postais.
Neste
caso, o uso de estereoscópios tornava a fotografia "3-D"
muito inferior ao cinema, que dispensava qualquer tipo de intermediário
entre o olho e o objeto visualizado, ale, é claro, da
recuperação do movimento que a "fotografia
animada" [26] proporcionava.
A
imagem do cinema é, então,
Mais
completa que a fotografia, pois tem aliados movimento e palavra,
tem possibilidade de persuadir o público (...) [tem
o] uso da mensagem dramática, captação
de pequenos detalhes gráficos e desenhos animados;
(...) câmera lenta; reprodução fiel das
imagens, gestos, movimentos, sons, palavras, entonações;
(...) alto índice de atenção devido à
projeção em sala escura eliminando interferências.
[27]
Assistir
a um filme torna-se uma experiência que dá ilusão
da própria experiência de realidade, [28] pois
os objetos adquirem relevo e detalhe enquanto elementos subliminares
"são utilizados pelos cineastas para produzir impactos
afetivos". [29]
Percepção,
imaginação e noção são tocados
pela imagem fulgurosa da emanação de luz da tela
a resplandecer na obscuridade da ambiente, um estímulo
ultraluminoso que "de certo modo hipnotiza o espectador"
estado que é facilitado pelo "desaparecimento de
estímulos sensoriais concomitantes, relativos à
vida real". [30]
O
primeiro fator sugestivo que há que ter em conta é
o ambiente escuro em que o espectador deve submergir para
poder completar a imagem. A pouca luz produz um isolamento
exterior e reconcentra o espectador, evitando-lhe toda a distração.
Assim o espectador fica disponível e aberto para a
influência que o cinema queira exercer sobre ele. [31]
O
que não quer dizer que o espectador seja passivo, ao
contrário, nesta situação ele "desenvolve
uma grande atividade projetiva". [32]
Nicolau
Sevcenko aponta com precisão o quanto este espetáculo
tem de encantador, atestando seu poder sedutor e de mobilização
das atenções.
...o
cinema é uma arte feita para os olhos e o subconsciente,
não para a razão ou a explanação
verbal. É por isso que o cinema está mais próximo
da mitologia que da narrativa ou da história, com sua
estrutura orgânica e base verbal. [33]
E,
de fato, esse poder que tem o cinema de transformar pessoas
em "mitos", catalisadores da atenção
das massas anônimas que neles procuram referências,
sempre foi um dos seus maiores atrativos.
Mitos
materializados na figura dos heróis ou da heroína,
do mocinho ou da mocinha, que formavam o par romântico
preenchendo o ambiente do cinema com cenas sensuais, muitas
vezes explicitamente eróticas enquanto o espectador mergulhado
na escuridão podia exercitar o próprio estado
de excitação com a companheira ao lado. Era muito
provável que o viril João compartilhasse cenas
deste teor com Maria no escurinho do cinema do Brás para
onde a levava "diariamente".
"Estavam
as coisas neste pé quando João conheceu outra
rapariga", outra "Maria" qualquer, e com ela
deve ter continuado a gozar do ambiente de "intimidade
das salas escuras do cinema" [34] e toda a bolinagem
que a penumbra das salas, a proximidade dos corpos e as cenas
de amor incitavam. [35]
São
tipos condenados em todos os sentidos pela moral do cronista
e, em conseqüência, pela moral da "boa sociedade"
que ele representa. João, um caboclo que vivia às
voltas com raparigas, um promíscuo; e Maria, uma prostituta
talvez, se expondo às bolinagens nos cinemas da cidade.
Restava
à mulher traída escrever cartas de amor e de súplicas
ao objeto do desejo, fato digno de nota pelo cronista, afinal
Maria era negra e pobre e seria mais aceitável neste
contexto se fosse analfabeta. Resta-nos supor que esta afirmação
do jornal era pura invenção ou que aí viesse
implícita a insinuação de que ela fosse
uma daquelas leitoras de perigosos romances que incitavam ao
suicídio. Coisas da época.
De
outro lado havia uma remota chance de que fosse alfabetizada,
mas neste caso, sua escrita era tão condenável
quanto ela, escrita que só servia aos desígnios
ignominiosos deste amor vulgar e patético. A difícil
vida de Maria dos Santos, moradora dos arredores da insalubre
Várzea do Carmo, naquele trecho sórdido do bairro
do Brás, sequer é citada pelo cronista. Para ele
e seu leitor isso parece muito claro ao localizar sua casa,
sua cor, sua classe.
Ao
mesmo tempo, para os contemporâneos, o ato violento do
suicídio não poderia resultar de causas relativas
a questões sociais que assolavam a capital paulista com
todo tipo de problemas, ou seja, um crescimento acelerado que
acentuava a diferença entre ricos e pobres, sobretudo
no usufruto das muitas novidades que simbolizavam os valores
da civilização: e isso significava boa moradia,
educação, saúde, luz elétrica, água
encanada, remédios, utensílios domésticos,
enfim, tudo que a modernidade já podia propiciar mas
que poucos tinham acesso.
Estava
implícito no discurso do jornalista ao seu leitor, estabelecendo
uma cumplicidade entre os dois, algo que ligava o suicídio
à cor da pele, à posição social
dos retratados e, acima de tudo, ao desequilíbrio de
uma paixão doentia e desesperada. Enfim, o suicídio
vinha claramente vinculado à degeneração.
Para
o leitor atual a narrativa pode apresentar um tom excessivamente
dramático, dado pelos recursos literários que
o cronista lança mão, e chega mesmo a fazer rir
do lugar comum a que foram reduzidos os personagens, reais ou
não.
A
história tem então seu nó narrativo, seu
ápice, com a tentativa de suicídio de Maria. A
partir daí perde o andamento literário, meio romântico,
meio naturalista, encerrando com dados formais como procedimentos
oficiais e a informação do estado de saúde
da moça.
Existia,
contudo, uma designação precisa para este tipo
de reportagem sensacionalista que teve seus primórdios
em meados do século XIX e que tinha de péssima
reputação entre a camada culta da nossa elite,
sejam literatos, juristas ou profissionais da saúde,
responsáveis por colocar em ação os planos
de regeneração no início do século
XX.
As
primeiras questões formuladas então foram: o que
era esta notícia? E qual sua classificação
na história da imprensa?
Desgraça
pouca é bobagem: o conceito de fait divers
Uma
vez que foi apresentada a notícia no item anterior, é
possível conceituá-la. Num primeiro momento, ela
não passa de uma fórmula revelada muito eficaz
para chamar a atenção dos leitores de jornais
do início do século XX. Muito parecidos com a
tentativa de suicídio de Maria, tantos outros suicídios
por amor povoavam as páginas de periódicos nacionais
e estrangeiros, sérios, mundanos ou jocosos.
Rápido
sentimos o tom exagerado, extraordinário, romântico
e dramático da narrativa. Na história de João
e Maria, o caboclo e a negra, encontramos elementos do melodrama:
o par enamorado, o amor não correspondido, a traição,
a separação dos amantes, a carta de súplica
e ameaça e, enfim, a tentativa de suicídio. Imagens
sucessivas de gente desesperada, como diz o título, envolvida
em verdadeiras armadilhas da vida, como se fossem personagens
de um emocionante romance.
A
esse "...relato romanceado do cotidiano real" chamamos
de fait divers. [36]
Em
um fait divers encontramos o tom mundano e indefinido
do cotidiano. Não sabemos bem quem é a "infeliz
Maria" ou o conquistador João. Sequer se foram pessoas
reais, se existiram. Ainda que existissem - como tenta atestar
a indicação do endereço - ou que a tentativa
de suicídio tenha sido real, é possível
que os personagens resumam qualidades de seres genéricos
e anônimos na cidade que crescia.
A
história contada com tantos e precisos detalhes só
aumenta a incerteza e, por vezes, se tornam até cômicas
as observações mais íntimas feitas por
quem escreve. Vemos então aqui algumas das características
do fait divers como a contradição, o patético
e a presença da ficção.
Na
notícia "desgraça pouca é bobagem",
como diz Marlyse Meyer, não existe uma oposição
rígida entre ficção e realidade. Sua fórmula
reúne informação e invenção
ao mesmo tempo, a ponto destas se confundirem, tênue linha
separando real e imaginação.
Detalhes
como saber a quais cinemas João levava Maria, que ele
começou a cortejar outra moça antes de terminar
com ela, que Maria se enfureceu e a que horas ela se recolheu
para ingerir o veneno são informações que
o bom repórter policial podia colher na delegacia ou
no burburinho do diz-que-diz-que formado pelos próximos,
vizinhos e conhecidos, no meio da confusão. Mas são
por demais supérfluos para quem deseja apenas informar.
Há muita chance de serem invenções com
base na realidade.
Junto
a outras notícias sobre os ocorridos de última
hora, as seções de fatos diversos normalmente
reservavam um espaço vago no jornal para tudo o que não
se classifica ou, como diz Roland Barthes, o fait divers
é "uma classificação do inclassificável".
[37] São crônicas as mais variadas onde
a narração de crimes é apenas um exemplo.
O
fait divers com a tentativa de suicídio de Maria
aparece na seção Notícias Diversas
de O Estado de S.Paulo que é o nome usado pelo
jornal para variedades. Nela o leitor podia encontrar diariamente
manchetes como essas: "Mordido por um cão",
[38] "Drama de sangue", [39] "Tentativa
de Suicídio", "Queda e ferimento", "Amor
Funesto", "Desastre", "O voto feminino",
"Agressão num botequim", "Os Amigos do
Alheio", "Polícia de Costumes", "Menor
Espancado", "Carnaval", "Ódio e Sangue",
"Loucura Fatal", "Os Desocupados", "João
Cândido", entre outros.
Temos
ainda a divulgação de boletins estatísticos,
informações sobre recrutamento, campanhas higienistas,
reportagens sobre greves, visitas ilustres, esportes, entretenimento,
folhetim, enfim, o cotidiano em geral.
Essas
chamadas exerciam um forte magnetismo sobre o leitor que se
formou após a consolidação da imprensa
industrial: [40] lá ele encontrava de tudo,
de prodígios, monstros, acontecimentos fantásticos
a crimes passionais, obituários, esquetes cômicos,
a presença excepcional de autoridades na cidade e banalidades
de todo tipo. [41]
Os
leitores eram atraídos por temas comuns da cultura popular
e por uma estrutura inovadora, que combinava escrita e fórmulas
orais, permitindo o acesso à leitura por quem não
tinha grande intimidade com a cultura do impresso.
O
assinante, parte do modesto número de letrados, tinha
ali notícias sobre um mundo que não lhe pertencia.
Diferenças
ente a boa sociedade e a população em geral sempre
existiram, mas aumentaram consideravelmente neste contexto de
urbanização. A elite se tornava cada vez mais
apartada ao convívio com seus subalternos e adotava signos
europeus sintonizados com o que havia de mais sofisticado, ostentando
distinção. [42]
Esse
era um novo tipo de jornalismo que aos poucos substituía
as folhas de cunho político, em geral efêmeras,
abundantes durante o século XIX.
No
Rio de Janeiro, a difusão da imprensa e destes novos
gêneros foi anterior a São Paulo, ainda no Império.
Em São Paulo é apenas em inícios do século
XX que podemos falar em formação de um mercado
consumidor de jornais nas maiores cidades do país, atingidas
que foram pelos ventos da revolução científico-tecnológica.
[43]
Havia
a óbvia intenção de aumentar as vendas
dos jornais com notícias como essas que o fait divers
passa a ser um capítulo da história da Imprensa,
já que, com sua escrita familiar reafirmava os estigmas
tradicionalmente construídos e a separação
entre o "eu" - um leitor pertencente à elite
comprometida com o projeto conservador ou um leitor que tentava
se tentava se equiparar a tal condição - e o outro
- tudo aquilo de que as camadas ascendentes queriam se desvincular.
Ao
mesmo tempo revelava um esforço dos editores em reconhecer
que existia uma forma diferente de se relacionar com a escrita,
que não a erudita, num esforço de "considerar
que havia outra cultura na França, que a cultura dos
leitores não era apenas a dos intelectuais, apenas a
dos que iam às livrarias." [44]
Certamente
ser alfabetizado era parte indispensável do status
que ocupava um cidadão da alta roda. Em um país
de maioria analfabeta [45] saber ler e escrever era
sinal de distinção.
Mas,
saber ler e escrever, articular o pensamento racionalmente,
decifrar complexos códigos eruditos que exigem domínio
da tradição, era muito mais que ser alfabetizado
e leitor de Notícias Diversas. Era firme sinal
de que se pertencia a uma restrita camada intelectual. O que
não quer dizer que todos os intelectuais compactuassem
com os projetos da elite conservadora.
As
origens do fait divers
O
fait divers foi engendrado na França, como seu
nome atesta, e sua história se confunde com a do feuilleton-roman.
Embora
estes nomes tenham sido traduzidos para o português, aparecendo
nos jornais nacionais como Notícias Diversas,
Fatos Diversos, Variedades ou Folhetim,
em todos os compêndios compulsados se usa a expressão
fait divers no idioma de origem. O uso da expressão
no francês fez com que nós mantivéssemos
o que parece ser uma convenção, apesar de usarmos
a expressão Notícias Diversas quando nos
referimos exclusivamente ao contexto brasileiro e do jornal
O Estado de S.Paulo.
Resultado
de uma combinação entre formas tradicionais de
informação, com o melodrama e suspense do romance
folhetim, o fait divers foi avidamente consumido no período
do recorte desta pesquisa. [46]
Ele
foi inventado bem depois do folhetim. O feuilleton, inicialmente,
era apenas uma seção no rodapé do jornal
dedicada a assuntos leves e variados. Daí que até
podia levar a rubrica de "Variedade", que por sua
vez é uma espécie de antepassado do fait divers.
Ambos foram criados "pelo jornal e para o jornal",
[47] são parte da história da imprensa
de massas e por isso se confundem.
O
folhetim é, em poucas palavras, um romance em capítulos
avulsos, publicados diariamente em jornal, impedindo que o leitor
leia a continuação da história no mesmo
dia. Este fator aliado a um suspense da narrativa no final de
cada episódio aguça a curiosidade do leitor e
o leva, por assim dizer, a querer comprar o próximo número.
A
idéia de tornar aquele espaço ao rodapé
dos jornais uma seção fixa foi do impressor francês
Émile de Girardin, por volta de 1830. Ele expôs
publicamente sua intenção de expandir o público
consumidor de jornais tornando mais democrático seu acesso.
Era o nascimento da grande presse, com preços
menores - em parte devido à utilização
da publicidade - e assuntos mais leves.
Assim, a seção aos rodapés dos jornais
passa a comportar a nova fórmula literária "continua
no próximo número", e transforma-se em feuilleton-roman.
As Variedades, então, espalham-se ao seu redor,
fazendo par com o novo formato. [48]
Justamente
para atingir esse público mais amplo que fora a viga-mestra
da publicação em série, esta vai acabar
suscitando uma forma novelesca específica, aquela precisamente
com que o termo folhetim vai acabar se confundindo. [49]
A
impressionante boa idéia de Girardin estabeleceu de imediato
uma interação com o público nunca vista
em tal escala, o que é ainda mais facilitado pela temática
romântica: "o herói vingador ou purificador,
a jovem deflorada e pura, os terríveis homens do mal,
os grandes mitos modernos da cidade devoradora, a História
e as histórias fabulosas etc." [50]
Como
o gosto do grande público deveria ser satisfeito, incluindo
"massas populares" e a "curiosidade das classes
abastadas" [51] os homens de pensamento da época
julgavam que havia nisso um necessário sacrifício
da qualidade estética pelas regras do mercado, o que
fez com que gerações de literatos classificassem
o folhetim como má literatura.
Entre
os autores que podem ser considerados os primeiros folhetinistas,
em sua forma já consolidada, estão Eugène
Sue e Alexandre Dumas. Depois deles, são inúmeros
os autores: Paul Féval, Ponson du Terrail, Montépin,
Balzac e outros.
Em
suma, folhetim era um lugar no jornal para variedades e passa
a designar exclusivamente uma nova maneira de se publicar ficção.
E essa maneira de contar história influenciou a formação
da crônica.
Alguns
tipos de crônicas, porém, traziam mais que informação.
Eram dramatizações da vida real chamadas de fait
divers, como vimos, e que estavam em par com a ficção.
Então, além da contradição, do patético,
do tom ficcional que tornam a notícia inverossímil,
temos no fait divers o extraordinário - no sentido
pejorativo - a coincidência e o inesperado.
Isso
faz dele um modelo que aparece sob uma forma pré-determinada,
sugerindo uma eterna repetição.
O
fait divers torna visível o que se crê invisível,
ele traz o notável e o inexplicável, ele traz
o sangue perturbador da ordem, [52] ordem esta rapidamente
restaurada pela presença das autoridades.
Assim,
"Os Desesperados" traz esse mundo do bas fond,
de sangue e tragédias, onde é perfeitamente possível
o "procedimento incorreto", a traição,
a promiscuidade, a prostituição e os suicídios
por amor.
O
efêmero que o caracteriza, como jornal, permanece mesmo
naqueles fait divers que perduram por dias ou pela falta
de solução para o crime ou por um final que fica
em aberto. [53] Quando isso ocorre são usados recursos
como os do folhetim, o famoso "continua no próximo
número".
Isso,
no entanto, não anula seu caráter passageiro como
abaixo.
Tentativa
de Suicídio
A
autoridade que estava de serviço na manhã de
ontem na Repartição Central de Polícia,
teve comunicação de uma tentativa de suicídio
ocorrida na casa no 11 da travessa do Cemitério, onde
uma moça de 17 anos de idade ingeriu uma solução
de sublimado corrosivo.
Com a urgência reclamada, a autoridade transportou-se
para a casa indicada, acompanhada do médico legista,
sr. dr. Marcondes Machado.
A desesperada, a menor Maria Rodrigues, filha de Francisco
Rodrigues, na noite anterior sofrera grande abalo com a notícia
que recebera de um rapaz com o qual devia casar, o indivíduo
Antônio Jorge, que a procurara para lhe declarar que
o casamento não se realizaria mais, pois era forçado
a abandonar esta capital e fugir para não ser preso
pela polícia.
Pouco antes, referia ainda Antônio Jorge, estivera envolvido
numa agressão que provocou na avenida Angélica,
onde reagiu à prisão, evadindo-se, e a polícia
já andava no seu encalço, mandando procurá-lo
na casa em que reside, à rua da Bela Cintra, 86.
E, com essas palavras, o muito perturbado Antônio Jorge
explicou apressadamente o que lhe sucedera, despedindo-se
de Maria Rodrigues.
Esses fatos impressionaram o espírito da desventurada
moça, de um modo a agravar-lhe a situação,
porque a fuga do noivo, nas condições aludidas,
concorreria para que ele não reparasse o mal que lhe
havia feito e que o obrigaria a casar para não ser
processado.
Com esses desenganos, a tresloucada comprou pela manhã
diversos tablóides de sublimado corrosivo e depois
de dissolvê-los num copo d'água, ingeriu o violento
tóxico.
A família de Maria Rodrigues, descobrindo o desatino
que a desesperada praticou, providenciou logo para socorrê-la.
O seu estado inspira cuidados. [54]
Agora
é outra Maria que tentava o suicídio, mas esta
tinha família e uma honra a preservar. De qualquer modo,
mesmo sendo "moça de família" Maria
Rodrigues era um tipo a se desconfiar afinal, sendo menor e
solteira, manteve relações sexuais fora do casamento,
situação completamente condenável nesta
época como veremos um pouco mais à frente e, como
se não bastasse, se envolveu com um criminoso e potencial
fugitivo da polícia.
As
duas histórias se parecem muito, a da "preta"
Maria dos Santos e a da "moça" Maria Rodrigues.
O cronista de O Estado mal muda os nomes, alterando um
dado ou outro, inspirado pela realidade. Duas histórias
de amor, duas expectativas frustradas, dois abandonos, duas
tentativas de suicídio.
E,
igualmente, a última frase que deixa em aberto uma expectativa:
o que terá acontecido? No caso da primeira Maria, os
jornais silenciaram: nada foi dito, se ela veio a falecer ou
não. No segundo caso, da Maria Rodrigues, mocinha de
família deflorada e abandonada pelo namorado (um tipo
metido em confusões) a continuação aparece,
doze dias depois, como se fosse o próximo e último
capítulo de um folhetim.
Triste
Desenlace
Há
dias, como noticiamos, a menor Maria Rodrigues tentou suicidar-se
na casa de seus pais, à travessa da Consolação,
11, ingerindo vários tablóides comprimidos de
sublimado corrosivo.
A tresloucada moça havia sido procurada anteriormente
por seu noivo, José Maria Jorge, que lhe declarara
desistir do casamento, porquanto precisava fugir de São
Paulo, visto ter se envolvido num conflito, e a polícia
andar no seu encalço.
A infeliz moça, que já se havia deixado seduzir
pelo rapaz, cometendo uma fraqueza que atingia a sua dignidade,
ficou desesperada e cometeu o desatino que agora teve o seu
triste desenlace, com a sua morte, após dolorosos padecimentos.
A polícia da Consolação que procedia
a inquérito, para averiguar a responsabilidade de José
Maria Jorge, na parte referente ao mal que o mesmo praticara,
encerrou ontem o inquérito que será hoje remetido
ao juízo criminal.
O acusado, comparecendo ontem, perante a autoridade declarou
que se casou com a vítima na véspera do seu
falecimento, tendo neste sentido exibido certidão legal
para ser juntada ao inquérito, como foi feito. [55]
Além
da repetição exaustiva de um modelo, temos outros
pontos em comum com o folhetim, como o excesso melodramático,
a identificação imediata do leitor com os "personagens"
e a atemporalidade. Neste último caso, tanto fait
divers como folhetins não requerem referências
dadas de antemão ao leitor, não exigem um contexto.
São narrativas que se encerram em si mesmas, tornando
a crônica legível em qualquer situação,
ainda que muitos anos se passem após o ocorrido. [56]
Em
uma análise diacrônica encontramos algo parecido
com que seria o fait divers presente nos jornais parisienses
desde o início do novecentos (ou antes) com o epíteto
de "variedades". Nestas seções eram
publicadas notícias aparentadas com as nouvelles
ou canards ou ainda, literatura de colportage
"assim chamada porque o vendedor a carregava num tabuleiro
que trazia pendurado no pescoço". [57]
As
nouvelles eram notícias contadas por um nouvelliste
em praça pública.
Seus
ouvintes multiplicavam-se pela comunicação boca-a-boca
modificando o conteúdo do que se ouvia ao passar a história
para frente resultando em uma criação coletiva.
[58] Quando impressas, as nouvelles chamavam-se
canards ou ocasionelles que são quase tão
antigos como a Imprensa, constando os primeiros registros de
1488. [59]
No
século XVI os canards sanglants ou tragiques
causavam furor. Eram várias notas juntas em um só
folheto, uma abaixo da outra e bem curtas, em poucas linhas.
Podemos ver a seguir a transcrição de um canard
de 10 de maio de 1606. São "acidentes funestos"
ou "deploráveis", como foi anunciado no Journal:
-
Ce jour, la femme d'um boulanger, se voyant surpeise en adultère,
se precipita du haut d'une fenêtre em bas et se tua.
- Un gentilhome sans jambes, comme sans Dieu, eut ce jour
la tête tranchée en Grève, où il
ne voulut ni prêtre, ni ministre, ni même invoquer
Dieu une fois seulement, comme vrai athéiste qu'il
était.
- Lê jeudi 11e de ce móis, lê fils de La
Martinière, maître dês comptes, poignarda
à Paris, de quinze coups, as propre sœur, femme
du Chevalier du Guet grosse de six mois, l'étant allée
voir lê matin pour lui Donner (ainsi qu'il disait) le
bonjour; et l'ayant trouvée comme elle achevait se
s'habiller, la salua de quinze coups de poignard. Histoire
prodigieuse, mais pleine d'un merveilleux jugement de Dieu,
et sur le père et sur le fils, et sur toute cette Maison,
l'ignominie de laquelle ne se peut couvrir par silence. [60]
Às
vezes vinham com ilustrações. Também havia
canards em forma de folhetos ilustrados e com apenas
uma notícia. [61]
|

Fig. 1 Gêmeos
Siameses
|
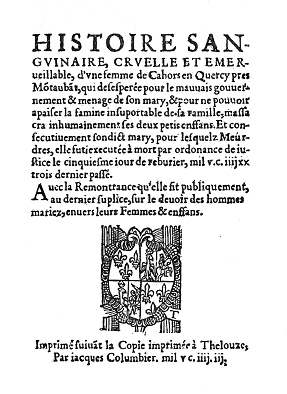
Fig. 2 História
Sangrenta
|
Vinham
em edições bem simples, quase sem tratamento gráfico
e com freqüentes erros tipográficos. Traziam histórias
tão terríveis e sangrentas que fazem os fait
divers parecerem tolos.
Pourvu
que le crime soit bien sanglant et le monstre bien horrible,
qu'importe l'emballage! [62]
O
similar inglês era chamado de sheet ballad, o espanhol,
hoja suelta e em português, folha volante.
Era o "jornal dos pobres", de papel barato e impressão
grosseira. [63]
Será
preciso um dia fazer a análise desses relatos de crime
e mostrar seu lugar no saber popular. [64]
Dizia
Foucault, se referindo aos panfletos difundidos popularmente
sobre o horrendo crime de parricídio e fratricídio
do camponês francês Pierre Rivière.
Esses
impressos de uma página, do início do século
XIX, no formato de pequenos cartazes, circulavam pelos povoados
franceses reproduzindo a sentença do tribunal do júri
dada ao assassino e narrando o crime. Na imagem a seguir vemos
o crime de Pierre Rivière contado de maneira ruidosa,
com o claro fim de tornar o crime público e condenar
sua figura.
|
|
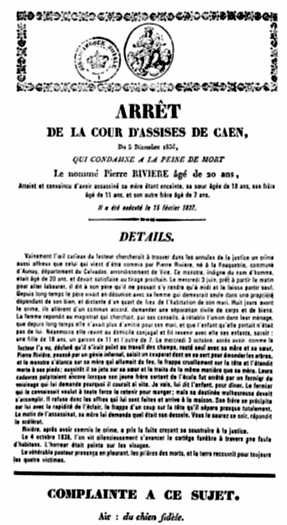
Fig. 3 O
crime de Pierre Rivière
|
Fatos,
datas, detalhes eram inventados e distorcidos, misturados com
histórias de outros crimes sangrentos, informações
eram acrescentadas pelas diversas versões, tornando o
crime de Pierre Rivière uma lenda de fundo moral.
Os
tipos representados, a começar por ele, "ce monstre,
indigne du nome d'homme", são degenerados. Seu pai
era representado como um tolo, sua mãe, irascível.
Uma família camponesa, o que equivale a dizer "selvagens"
para os franceses das esferas do controle oficial da época.
Este
folheto, cuja aparência ornamental supõe um público
atraído mais pela forma que pelo texto, termina com uma
poesia a ser cantada com os crimes de Pierre a vingar "les
victimes respirent encore."
De
fato, os canards ou occasionelles podem ser vistos como um dos
mais autênticos antepassados do fait divers.
O
uso do termo fait divers no lugar de canard, varietés,
nouvelle, faits Paris ou chronique,
no entanto, só apareceu na segunda metade do século
XIX, em 1863, com Moïse Polydore Millaud em seu Le Petit
Jounal. [65] Ele
passa a ser um concorrente direto do folhetim do Segundo Império
pois, baratíssimo, distribuído por toda a França
e sem fins políticos ou literários, agradava à
sociedade sedenta por entretenimento e absolutamente familiarizada
com o formato.
Com
tiragens imensas que chegavam aos 400 mil exemplares, Le
Petit Journal estruturou suas vendas nos fait divers
e folhetins, sempre que possível, ilustrados. Millaud
conseguiu, inclusive, vencer as barreiras da capital, vendendo
amplamente para as camadas rurais francesas.
No
Brasil o fait divers e o folhetim chegam quase ao mesmo
tempo em que se difundem pela Europa e encontram aqui pronta
acolhida. Isso se deve a um ambiente receptivo tanto pelo fato
de que já existia o hábito de leitura ou audição
de romances franceses no Brasil antes mesmo de haver um romance
brasileiro [66] quanto por de termos uma cultura predominantemente
de base orais.
Donde
se conclui que, tanto na França como no Brasil, se
a fórmula de Girardin teve tal sucesso, foi porque
já respondia a hábitos adquiridos de leitura
ou audição de ficção. E se no
Brasil o folhetim "pegou" tão bem foi porque
encontrou terreno favorável: às leituras tradicionais
tinham sucedido as galantes novelas todas traduzidas do francês.
[67]
O
folhetim nacional mais antigo é de 1836, do periódico
O Chronista de Justiniano José da Rocha. A partir
de 1838, com a publicação de Capitão
Paulo, de Alexandre Dumas, no Jornal do Commércio,
a moda pega definitivamente. [68] Daí em diante
o folhetim se consolidou como sucesso de público.
Ainda
no início do século XX eles estavam em voga, como
verificamos em nossa pesquisa. Eram traduzidos do francês
e também usados largamente como expediente de escritores
brasileiros que queriam ver sua obra editada, visto que seu
baixo custo atraía grande número de leitores e
assinantes. [69]
Os
fait divers também se encontravam cada vez mais
numerosos com a virada do século e com a urbanização,
onde levas de novos leitores se formavam. Esta produção
correspondia, portanto, a uma demanda. Sendo assim, histórias
como as de Maria e João serão exploradas durante
muito tempo.
Tratarei
em outro artigo questões pertinentes à recepção
do fait divers em São Paulo antigo, pesquisa que
realizo atualmente visando expandir o corpus documental assim
como as formas de análise do material, sendo as conclusões
até aqui publicadas resultado da minha tese de doutorado
Notícias Diversas: suicídios por amor, "leituras
contagiosas" e cultura popular em São Paulo nos
anos dez.
Notas
[1]
Alvaiade: [Do ár. al-abyaë, 'branco'.] S. m. Quím.
Pigmento branco, seja de carbonato básico de chumbo (de
composição variável), seja de óxido
de zinco. s. m. do art. arab. al, e de beyde,
branquear, lat. cerussa, hesp. alvayalde, (chim.)
óxido branco do chumbo, dissolvido pelo acido acetoso.
É absorvente, e serve para diversos usos na medicina.
[2]
O Estado de S.Paulo, 08/12/1910.
[3]
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Retrato em Branco e Negro - jornais,
escravos e cidadãos em São Paulo no final do século
XIX, SP: Cia. Das Letras, 2001, p. 15.
[4]
Idem, p. 14.
[5]
LEME, Marisa Saenz. Aspectos da evolução urbana
de São Paulo na Primeira República, tese de
doutoramento apresentada ao Departamento de História
da USP, SP, 1984, p. 142.
[6]
LEME, Ibidem; PORTO, Antônio Rodrigues. História
Urbanística da cidade de São Paulo 1554-1988,
SP: Ed. Cartago & Forte, 1992, p. 101.
[7]
PENTEADO, Jacob. Belenzinho 1910 (retrato de uma época),
SP: Carrenho Editorial/Narrativa Um, 2003, p. 45.
[8]
Idem, p. 46.
[9]
MOURA, Paulo Cursino de. São Paulo de outrora- evocações
da metrópole, SP: Edusp, p. 302.
[10]
LEME, Op. Cit., p. 146-148.
[11]
Idem, p. 150.
[12]
MOURA, Op. Cit., p. 302.
[13]
LEME, Op. Cit., p. 152.
[14]
SCHWARCZ, Op. Cit., p. 83.
[15]
ISENBURG, Tereza (org). A Imagem dos Negros e dos Índios
no Ambiente da Corte In: Naturalistas Italianos no Brasil,
SP: Ícone Editora/ Secretaria de Estado da Cultura, 1991,
p. 90.
[16]
CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo:
Martin Claret, 2002. Ver, por exemplo, o capítulo 8,
Quarta Expedição.
[17]
Cf. SCHWARCZ, Op. Cit.; VENTURA, Roberto. Estilo Tropical:
história cultural e polêmicas literárias
no Brasil, SP: Cia. Das Letras, 2000, p. 66.
[18]
PENTEADO, Op. Cit., p. 122.
[19]
Idem, p. 48.
[20] Idem, p. 171.
[21]
Ibidem.
[22]
Ibidem.
[23]
Idem, p. 173.
[24]
Idem, p. 176.
[25]
Idem, P. 172.
[26]
AMERICANO, Jorge. São Paulo naquele tempo (1895-1915).
SP: Carrenho Editorial/Narrativa-Um/Carbono 14, 2004, p. 221.
[27]
FARKAS, Thomaz. Cinema Documentário: um método
de trabalho - tese de doutoramento apresentada ao Departamento
de Jornalismo e Editoração - ECA-USP. SP: 1972,
p. 04.
[28]
"Ilusão", pois no cinema perdemos a noção
de proporcionalidade, do ritmo dos acontecimentos, do foco real
e das cores, já que não "corrigimos"
estes desníveis da percepção como faríamos
na realidade. ESPINAL, Luís. Cinema e seu processo
psicológico. SP: Lic Editores, 1976, p. 18.
[29]
Idem, p. 22.
[30]
Idem, p. 33.
[31]
Idem, p. 43.
[32]
Idem, p. 30.
[33]
SEVCENKO, Nicolau. A capital irradiante: técnica,
ritmos e ritos do Rio. In: SEVCENKO, Nicolau (org.), História
da Vida Privada no Brasil. SP: Ed. Cia. das Letras, 1998,
vol. 3, p. 600.
[34]
SALIBA, Elias. A Dimensão Cômica da Vida Privada
na República In: SEVENKO, Idem, p. 331.
[35]
Ibidem.
[36]
MEYER, Marlyse. Folhetim, uma história. SP: Ed.
Cia. das Letras, 1996, p. 94.
[37]
BARTHES, Roland. Estrutura da Notícia In: Crítica
e Verdade. SP: Perspectiva, 1970, p. 57.
[38]
O Estado de S.Paulo, 16/12/1910.
[39]
Idem, 07/05/1911; 01/01/1913; 11/11/1910; 04/05/1911; 22/07/1910;
12/07/1917; 07/06/1910; 07/06/1910; 22/03/1917; 07/06/1910;
, 22/02/1912; 16/10/1910; 04/02/1912; 06/02/1917; 28/02/1012,
respectivamente.
[40]
MARTINS, Wilson. A Palavra escrita: história do livro,
da imprensa e da biblioteca. SP: Ed. Ática, p. 231.
[41]
MEYER, Marlyse. Voláteis e Versáteis, de variedades
e folhetins se fez a chronica in: Boletim Bibliográfico
Biblioteca Mário de Andrade, vol.46, no 1-4, jan-dez/1985,
p. 21 e 25.
[42]
SCHAPOCHNIK, Nelson. Cartões-postais, Álbuns
de família e Ícones da Modernidade In: SEVCENKO,
História da Vida Privada..., Op. Cit., 440.
[43]
Cf. DEL FIORENTINO, Terezinha A. Prosa de ficção
em São Paulo: produção e consumo (1900-1920).
SP: Hucitec, Secretaria de Estado da Cultura, 1992.
[44]
MARTÍN-BARBERO, Jesus. América Latina e os
anos recentes: o estudo da recepção em comunicação
social In: SOUSA, Mauro Wilton de (org). Sujeito, o lado
oculto do receptor. SP: Editora Brasiliense, 2002.
[45]
Cerca de 70% da população durante o período
estudado - ver capítulo 3.
[46]
E continuam lidos até nossos tempos, como atestavam o
extinto Notícias Populares ou o atual Agora
São Paulo, para só citar o caso de São
Paulo. São ouvidos em programas do Gil Gomes ou Afanásio
- cuja narrativa é de contador de história, auxiliada
por pesada sonoplastia, grande responsável por criar
o "clima" que enleva o ouvinte com sensações
de atenção, curiosidade, apreensão e um
previsível êxtase. Isso sem falar em programas
de televisão exclusivamente sensacionalistas ou de telejornais
que exploram a realidade de maneira extraordinária, seja
um Cidade Alerta, seja um Jornal Nacional.
[47]
MEYER. Folhetim..., Op. Cit. p. 30.
[48]
Ibidem.
[49]
Idem, p. 30 e 31.
[50]
Idem, p. 31.
[51]
ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. SP:
Ed. Perspectiva, 1993, 5a edição, p. 190.
[52]
MERLAU-PONTY, Maurice. Sur les Faits Divers In: Signes.
Paris : Gallimard,s/d e BARTHES, Op. Cit., p. 60.
[53]
BARTHES, Op. Cit., p. 62.
[54]
O Estado de S.Paulo, 10/07/1910.
[55]
O Estado de S.Paulo, 22/07/1910 - Continuação
de 10/07/1910.
[56]
MEYER. Folhetim..., Op. Cit., p. 99.
[57]
HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil: sua história.
SP: T.A Queiroz/Edusp, p. 535.
[58]
MEYER. Folhetim..., Op. Cit., p. 101.
[59]
Cf. LEVER, Maurice. Canards sanglants: naissance du fait
divers. Paris: Fayard, 1993.
[60]
Journal, 10/05/1606 apud LEVER, Op. Cit, p. 9 e 10.
[61]
Ilustrações Gêmeos Siameses e História
Sangrenta In: LEVER, Op. Cit., p. 467 e 78, respectivamente.
[62]
LEVER, Op. Cit, p. 12.
[63]
HALLEWELL, Op. Cit., p. 535.
[64]
FOUCAULT, Michel. Os assassinos que se conta. In: _______.
Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe,
minha irmã e meu irmão. 4a ed., RJ: Ed. Graal,
1991, p. 217.
[65]
MEYER. Folhetim..., Op. Cit., p. 48.
[66]
"Confirmava-se, pois, a presença avultada de novelas
européias no Brasil numa época anterior à
constituição do gênero entre nós...",
MEYER, Op. Cit., p. 29.
[67]
MEYER. Folhetim..., Op. Cit., p. 34.
[68]
MEYER. Voláteis e Versáteis..., Op. Cit.,
p. 21.
[69]
"Assim sendo, os periódicos eram mais procurados,
mesmo porque eram mais baratos do que os livros.", FIORENTINO.
Op. Cit., p. 123.
*Valéria
Guimarães é historiadora e pós-doutoranda
no COS-CEO-PUC-São Paulo.
Voltar
|

