O
fluxo narrativo de personagens criminais
|
Por
Mirella Bravo de Souza*
Um
estudo sobre
as histórias jornalísticas
de Lúcio Flávio Vilar Lirio
e Leonardo Pareja
Resumo
O
artigo tem como base uma dissertação que
perseguiu como hipótese principal a existência
de um único fluxo narrativo em que estão
inseridas as notícias sobre Lúcio Flávio
Vilar Lírio e Leonardo Pareja. Esse fluxo se divide,
para fins de análise, em fluxo do tema e fluxo
das estratégias narrativas. O primeiro trata do
conteúdo; o segundo, da forma. Os dois se encaixam
dentro do processo de configuração pelo
agente mediador jornalista-narrador.
|
Reprodução
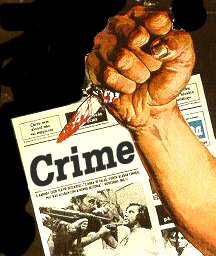
|
O
pressuposto fundamental é que notícias são
histórias, ou seja, construções narrativas.
Por isso, apoiada na Tríplice Mimese de Paul Ricoeur,
uma concepção que privilegia o processo e indica
que a ação narrativa se fundamenta nos três
atos miméticos interligados - prefiguração,
configuração e refiguração-, estuda
a construção das histórias criminais para
comprovar a existência do fluxo e descrever como o jornal
produz memória e recria mitos.
Palavras-chave:
Narrativa / Jornalismo / Mito / Memória
Introdução
Ousados,
bonitos, inteligentes, capazes de atos surpreendentes, eles
foram meninos "levados" na infância, mas sempre
muito carinhosos com os pais. Estudaram em conhecidos colégios
religiosos e gostavam de música, livros e poesia, mas
a perda da boa situação financeira das famílias
de classe média alta teria abalado a vida de ambos para
sempre.
Os
primeiros desentendimentos com policiais foram por brigas ou
latas de lixo chutadas na madrugada. Mais tarde, carros e dinheiro
roubados eram usados para diversão em fins de semana
prolongados ou férias. Por fim, as ações
criminosas se intensificaram e eles foram ganhando a cena pública
como figuras obrigatórias da crônica policial brasileira.
Suas histórias ocupavam páginas inteiras de jornais
e revistas, com destaque para o dia da notícia das mortes
trágicas - eles foram assassinados na prisão.
A
mesma história, mas dois personagens de famílias,
lugares e épocas diferentes. Está clara acima
a existência de um fio condutor que as une, possível
de ser percebido a partir da leitura de jornais e revistas que
contaram as histórias de Lúcio Flávio Vilar
Lírio, década de 70, e Leonardo Pareja, década
de 90. Entendemos que não é por uma coincidência
de comportamento das personagens que é possível
emparelhar as duas histórias, mas a ação
de construção das notícias criminais é
um processo de configuração que realiza a mediação
da pré-compreensão do mundo da ação
e a devolução do texto ao mundo do leitor.
Adotamos
a idéia defendida por diversos autores de que as notícias
fazem parte da prática cultural antiqüíssima
da narrativa e do contar "estórias", que parece
universal. Acreditamos que elas carregam traços culturalmente
específicos, que informam a existência de padrões
narrativos e nos ajudam a compreender ainda mais o fazer jornalístico.
Consideramos,
ainda, que o jornal impresso detém o poder de dominar
a memória coletiva, na medida em que governa a lembrança
e esquecimento de uma sociedade, ao adotar determinados modelos
noticiosos. Assim, o jornal é veículo capaz de
recriar mitos.
Analisando
as narrativas criminais de épocas diferentes, que registram
momentos pontuais da vida de Lúcio Flávio Vilar
Lírio e de Leonardo Pareja como contraponto, tendo como
objetivo geral destacar marcas narrativas, convenções
ou modelos noticiosos que se perpetuam por décadas, foi
possível perceber a existência de um fluxo de notícias.
A
escolha de narrativas criminais se justifica por acreditamos
que, proprietárias de espaços próprios
nos jornais há anos, essas "estórias",
repletas de detalhes de interesse humano, são capazes
de assegurar a existência de um fluxo contínuo
de notícias, sendo dotadas de estereótipos e padronizações
narrativas que devem ser investigadas.
A
escolha das personagens ocorreu pela comparação
efetuada entre eles pelos jornais que narram as histórias
de Leonardo Pareja, na década de 90. Em vários
momentos, quando um fato sobre Leonardo Pareja é inserido
no jornal, seja na própria matéria ou em "sub-retrancas",
o nome de Lúcio Flávio é lembrado e as
histórias de vida de ambos são emparelhadas.
Ambas
personagens cujas narrativas foram analisadas apresentam, na
narrativa dos meios de comunicação, características
comuns em diversos momentos. O que a um primeiro instante pode
parecer uma coincidência de atos e comportamentos, neste
trabalho nos faz pensar a existência de uma categoria
na tessitura da intriga estruturada pelo jornalista-narrador.
Algo
que inevitavelmente nos remete à idéia de fluxo
narrativo pela semelhança da tessitura mesmo de personagens
de décadas diferentes. Essa categoria, que chamaremos
de personagens criminais romantizadas, abarca características
próprias que compõem a personagem e a insere no
fluxo narrativo.
Na tessitura desse tipo específico de intriga, encontramos
a infância como motor para o comportamento criminal, a
beleza e a inteligência acima da média, o perfil
classe média, o envolvimento afetivo da família,
a trajetória na bandidagem, a lista dos crimes, penalidades
e o tom de recorde que isso apresenta, as fugas espetaculares,
as frases de efeito, a iniciativa de falar aos meios de comunicação
por telefone ou carta, a escrita de poemas, as palavras dos
especialistas sobre as personagens como alerta do que deve ser
evitado, o bandido social que faz denúncia da corrupção
policial, o delinqüente perigoso e o bárbaro em
contraponto ao herói romântico que foge para vingar
o irmão, ama a liberdade, defende a honra da família,
se preocupa com amigos, ama a namorada, dá importância
à justiça, protege a sociedade, desafia a ordem
e não teme a morte, entre outras marcas narrativas.
Conhecendo
as personagens da análise
O
foco principal da análise são as narrativas da
vida de Lúcio Flávio Vilar Lírio. [1]
Encontramos em jornais da época que o nome de Lúcio
Flávio passou a ser destaque na crônica policial
carioca a partir de 1964, quando foi desbaratada uma quadrilha
de ladrões de automóveis que, entre outubro de
1963 e junho de 1964, havia roubado oito veículos. No
entanto, seu nome desaparece por um período de 5 anos
dos jornais do Rio de Janeiro, apenas voltando a aparecer em
1969. Algo que "não se explica por uma eventual
regeneração: Lúcio agia então em
Pernambuco, onde também conseguiu uma fuga sensacional
da Casa de Detenção do bairro São José,
em Recife, em 1967". [2]
Lúcio
Flávio era filho de uma família de classe média
mineira. Ele nasceu em 1944, em Minas Gerais. Seu pai, Osvaldo
Vilar, era cabo eleitoral das campanhas mineiras, mas perdeu
as regalias do ofício e deixou de viver as sombras do
extinto PSD.
Ainda com os filhos pequenos, um total de oito, a família
Vilar teve que se mudar para o Rio de Janeiro, se instalando
em Benfica e Bonsucesso.
"Desde
que mudaram de Belo Horizonte para o Rio, desde que o velho
(Osvaldo Vilar) fizera a campanha de Carlos do Lago, desde
que recusara cargos no governo de Juscelino Kubitschek, as
coisas foram murchando ao seu redor". [3]
Após
a extinção do partido, Osvaldo Vilar, funcionário
público aposentado, e Zulma Vilar, professora primária
de escola particular, começaram a ter dificuldades financeiras.
Os jornais narram que Lúcio Flávio se revoltou
contra o pai e não se conformava com a pobreza. Além
disso, teria Lúcio Flávio tido o nome cogitado
para ser candidato a vereador pelo PSD, mas Osvaldo, alegando
falta de condições financeiras para a campanha,
recusou a idéia. [4] O fato é tido como
a maior frustração da vida de Lúcio Flávio.
Em
1969, é desbaratada uma nova quadrilha de ladrões
de carro, no Rio de Janeiro, e Lúcio Flávio é
identificado como membro. Não apenas como simples integrante,
mas como figura principal, posição que ocupou
após o assassinato do líder da quadrilha Marcos
Aquino Vilar, crime do qual Lúcio era o principal suspeito.
Foi
nesse homicídio que pela primeira vez apareceu ao lado
do corpo o desenho da caveira, que mais tarde foi identificado
como o símbolo do Esquadrão da Morte. É
dessa época que vêm as ligações de
Lúcio Flávio com um dos policiais acusados de
pertencer ao Esquadrão da Morte, Mariel Mariscot de Matos.
[5]
Uma
aliança que não durou muito, pois logo depois
Lúcio Flávio iniciou uma série de denúncias
sobre o envolvimento de policiais em suas fugas e crimes. Em
uma carta enviada ao jornal O Globo por Lúcio
Flávio, e publicada na íntegra em 31 de janeiro
de 1974, ele afirma que apontaria "todos os policiais,
guardas e funcionários que com a mesma mão que
exibem uma carteirinha de polícia, recebem míseras
propinas para levarem armas, fazerem trapaças, traindo
a pobre e calejada Sociedade que lhes outorga o dever de defendê-la".
[6]
Com
a morte de Marcos Aquino, Lúcio Flávio formou
um grupo com seu irmão Nijini Renato Vilar Lírio,
seu cunhado Fernando Gomes de Oliveira e o amigo Liece de Paula
Pinto. Juntos, eles arquitetaram um eficiente esquema de assaltos
a bancos, hotéis e outros estabelecimentos, assim como
roubo de carros. Entre os fatos lembrados pelos jornais sobre
a vida de Lúcio Flávio, as fugas são sempre
apontadas como lembranças marcantes.
Lúcio
Flávio fugiu de instituições policiais,
durante toda sua trajetória, 34 vezes, incluindo presídios
de segurança máxima. Quando Lúcio Flávio
morreu, assassinado por um companheiro de cela enquanto dormia,
existiam, oficialmente, contra ele 74 processos. No entanto,
policiais afirmavam que um levantamento mais amplo indicaria
a soma de 400 processos por roubo de carros e 130 por assaltos,
estelionato e co-autorias em outros crimes. [7]
O
goiano Leonardo Rodrigues Pareja, personagem que será
o contraponto de Lúcio Flávio Vilar Lírio,
tem apontado em sua biografia nos jornais e revistas da época
o fato de ser o filho único de uma família rica
que perdeu tudo o que tinha. Em entrevista publicada na revista
VEJA, [8] Leonardo Pareja conta que tinha 10 anos quando
o pai, dono de uma transportadora em Goiânia, perdeu o
patrimônio.
O
pai, que era caminhoneiro, enriquecera após ganhar um
prêmio na loteria federal. Na mesma entrevista, questionado
sobre o porquê de ter virado bandido, respondeu que queria
uma vida de aventuras. Quando era adolescente, com 16 anos,
gostava de desafiar a polícia. Ainda segundo a mesma
entrevista, foi preso pela primeira vez aos 12 anos, por fazer
baderna na rua ao voltar de um show com uns amigos. Depois disso,
segundo palavras da personagem, perdeu o medo. Aos 15 anos,
andava de carro e moto roubados.
Aos
21 anos, foragido do Centro Penitenciário Agroindustrial
de Goiás (Cepaigo), onde cumpriu 1 ano e meio de uma
pena de nove anos por roubo de carros e assalto a postos de
gasolina, Leonardo realizou o feito que lhe deu notoriedade:
o seqüestro de Fernanda Viana, de 13 anos, com início
em 31 de agosto de 1995.
Fernanda,
sobrinha de um dos filhos do senador Antônio Carlos Magalhães,
foi mantida refém por cerca de sessenta horas. No dia
31 de agosto, Leonardo e Ricardo Sérgio Rocha assaltaram
o publicitário Paulo Gadelha Viana, que estava acompanhado
da filha Fernanda, em Salvador.
Como
garantia de que Paulo faria o depósito numa conta bancária
por eles indicada, os seqüestradores levaram Fernanda para
um hotel em Feira de Santana, na Bahia. Ricardo Sérgio
foi preso e Leonardo, cercado pela polícia, manteve a
menina como refém. [9]
No
dia 3 de setembro, depois de manter Fernanda por cerca de sessenta
horas como refém, Leonardo obtém um carro e a
promessa de que poderia fugir. Ele fugiu num Monza, levando
junto o advogado Luiz Augusto Lima da Silva, que se ofereceu
para trocar de lugar com a menina. Abandonando o advogado no
caminho, Pareja furou um cerco de mais de 300 policiais e seguiu
para Goiás. [10]
Em
2 de outubro, já em Goiás, Leonardo Pareja telefonou
para a Rádio Subaé, de Feira de Santana, e disse
que até dezembro voltaria ao local para libertar o comparsa,
Ricardo Sérgio. Foi a partir dessa ligação
que a polícia conseguiu localizá-lo. O jornal
O Globo, de 5 de outubro de 1995, registra que a partir
do rastreamento telefônico, um cerco de 200 policiais
foi feito no município de Aparecida de Goiânia,
do qual Leonardo conseguiu escapar após mudar a aparência
usando cabelos descolorados e barba rala.
Nesse
dia, houve um tiroteio e Cíntia Martins Ferreira, de
13 anos, foi atingida na perna e Leonardo foi acusado de autor
do disparo. [11] A fuga do seqüestrador só
teve fim quando ele decidiu se entregar, em 12 de outubro de
1995. Em entrevista ao O Globo, publicada no dia 13 de
outubro, Leonardo explicou que resolveu se entregar, pois já
havia vencido o jogo com a polícia e não tinha
mais graça. [12]
Cinco
meses após sua volta ao Cepaigo, no dia 28 de março
de 1996, se apresentou como um dos 11 líderes de uma
rebelião. Negociou a liberdade de seus cúmplices
e conseguiu sair do presídio, com outros presos e os
reféns, dirigindo um carro. Pareja foi recapturado no
dia seguinte, mas, ainda em fuga, surpreendeu a todos parando
em um bar para tomar uma cerveja. [13]
Já rendido no 7º Batalhão da Polícia
Militar, em Goiânia, em entrevista coletiva, criticou
o tratamento dado aos presos, advertiu sobre a possibilidade
de outras rebeliões no país, afirmou que o "crime
não compensa" e, ainda, falou do medo de ser morto
ao retornar ao presídio. [14]
Tanto
o jornal O Globo, de 24 de maio de 1996, como o Jornal
do Brasil, de 6 de abril de 1996, publicaram que os detentos
que fugiram, mas foram recapturados, criticavam o plano de Pareja.
Enquanto os presos que participaram da rebelião e não
conseguiram fugir o classificavam como traidor.
Ele
permaneceu preso no quartel da Polícia Militar, em Porangatu
(GO), mas foi reencaminhado ao presídio. Oito meses após
a fuga, no dia 9 de dezembro de 1996, Leonardo Pareja foi assassinado
fora de sua cela com sete tiros à queima-roupa disparados
de uma pistola calibre 45. Ele foi o último líder,
dos 11 que encabeçaram a rebelião em março
do mesmo ano, a ser morto. [15]
Explorando
a Tríplice Mimese
Estudamos
os pormenores do ato de narrar uma história para compreender
a intrínseca relação entre notícias
e narrativas, ou notícias como histórias. A base
teórica para a compreensão da estrutura narrativa
e a idéia de fluxo narrativo adotada é a tríplice
mimese de Paul Ricoeur [16] - pré-figuração,
configuração e refiguração - desenvolvida
a partir da mimese de Aristóteles, explicada em sua Arte
Poética, [17] e a teoria sobre o tempo de Santo
Agostinho, em Confissões. [18]
Para
Ricoeur, é na intriga que está o meio privilegiado
pelo qual reconfiguramos nossa experiência temporal. Partimos
da compreensão de que as narrativas são fundamentais
para a configuração do tempo e, com isso, para
a configuração da vida.
É
inerente ao ser humano a faculdade de intercambiar experiências,
é na narrativa que a vida configura sua existência.
Fatos e personagens existem no tempo a partir do momento em
que são contados. Por isso, não se pode ignorar
que existe uma correlação entre a atividade de
narrar uma história e o caráter temporal da experiência
humana, que não é puramente acidental.
O
tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado
de um modo narrativo, e a narrativa atinge seu pleno significado
quando se torna uma condição da existência
temporal.
O
objetivo de Paul Ricoeur em sua obra é compreender o
processo concreto pelo qual a configuração textual
faz a mediação entre a pré-figuração
do campo prático e sua refiguração pela
recepção da obra, ou seja, ele busca reconstruir
o conjunto das operações pelas quais "(...)
uma obra eleva-se do fundo do opaco do viver, do agir e do sofrer,
para ser dada, por um ator, a um leitor que a recebe e assim
muda o seu agir (...)".[19]
Três
estágios miméticos encadeados constituem a mediação
da relação entre tempo e narrativa. A mimese I
(tempo pré-figurado), mimese II (tempo configurado ou
construído) e mimese III (tempo reconfigurado).
A
mimese I se refere ao mundo pré-figurado e fala do mundo
da ação humana, realidade "por excelência"
onde o senso comum é acionado para dar sentido ao que
vivemos pela narrativa. Ela é apresentada pelo autor
como aquela enraizada numa pré-compreensão do
mundo e da ação. O ponto fundamental é
que a narrativa se tornaria incompreensível se não
viesse a configurar o que na ação humana já
figura.
Os
traços da mimese I, ou estruturas pré-figuradoras,
são três: suas estruturas inteligíveis,
suas fontes simbólicas e seu caráter temporal.
O autor entende que imitar ou representar a ação
é primeiro pré-compreender o que ocorre com o
agir humano: sua semântica, sua simbólica e sua
temporalidade.
O
primeiro traço que compõe a mimese I são
as estruturas inteligíveis. É aqui que Ricoeur
atinge o conceito de linguagem. O autor coloca que compreender
uma história é compreender ao mesmo tempo a linguagem
do fazer e a tradição cultural da qual procede
a tessitura da intriga.
De
fato, o primeiro passo da configuração textual
é observar e compreender o fenômeno da linguagem,
ou seja, é preciso situar os sujeitos bem como a própria
palavra no meio social e cultural no qual estão inseridos.
Bakhtin, [20] relacionando linguagem e sociedade, valoriza
a fala, a enunciação, e afirma sua natureza social,
não individual.
A
fala está indissoluvelmente ligada às condições
de comunicação, que, por sua vez, estão
sempre ligadas às estruturas sociais. Mesmo determinada
pelo fato de que procede de alguém, como pelo
fato de que se dirige para alguém, deve ser vista
como território comum tanto ao interlocutor como ao locutor.
O
segundo traço que compõe a mimese I é o
das mediações simbólicas.
Se
a ação pode ser narrada é porque ela já
está articulada em signos, regras, normas, ou seja, é
desde sempre simbolicamente mediatizada. O segundo ancoramento
que a composição narrativa encontra na compreensão
prática está nos recursos simbólicos do
campo prático. A mediação simbólica
introduz a idéia de regras de descrição
e interpretação.
Tendo
como base a idéia de que a cultura é pública
porque a significação o é, o autor entende
que o simbolismo não está no espírito,
trata-se sim de uma significação incorporada à
ação e decifrável nela pelos outros atores
em jogo. Baseados em Geertz, [21] nós entendemos
que a cultura consiste em estruturas de significado socialmente
estabelecidas, nos termos das quais as pessoas fazem coisas.
Contudo,
como sistema entrelaçado de símbolos interpretáveis,
a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser
atribuídos os acontecimentos sociais, os comportamentos,
as instituições ou os processos. A cultura é
um contexto, algo dentro do qual os acontecimentos, os comportamentos,
as instituições ou os processos podem ser descritos
de forma inteligível.
A
partir disso, Ricoeur conclui que, antes de ser um texto, a
mediação simbólica - o símbolo -
tem uma textura e compreendê-la é situá-la
no conjunto das convenções, das crenças,
das tradições e das instituições
que formam a trama simbólica da cultura.
A
afirmação garante a inexistência de neutralidade
e acrescenta a idéia de que em qualquer obra narrativa
não há apenas convenções e convicções
para dissolver, mas ambigüidades e perplexidades. Não
é local de entendimento único. A palavra, vista
como um signo que compõe a obra narrativa, já
traz embutido seu sentido dialético, dinâmico,
vivo, plurivalente.
Porém,
em um mundo cada vez mais contraditório, buscam-se parâmetros
para entender porque, apesar de ambíguas, 'as coisas
são assim'. Vale ressaltar a intervenção
dos meios de comunicação nesse processo de mediação
simbólica. A narrativa se torna, nesse sentido, o lugar
de explicação e de apresentação
de diferentes experiências passíveis de serem vividas,
cada dia mais de forma segura, em casa, no sofá, lendo
jornal ou assistindo televisão.
Não
é preciso viver um crime, para saber contá-lo.
Na contemporaneidade, a narrativa é midiatizada. Grande
parte do que conhecemos chega a nós por jornais, revistas,
televisão, rádio e internet. Tanto é assim
que, quando discutimos algo, parte de nossos argumentos fortes
se baseia no que lemos, ouvimos ou assistimos nos meios de comunicação.
O
jornalismo identifica e se apropria das mediações
simbólicas. O primeiro estágio da mimese - o mundo
prático do senso comum - é a fonte primeira na
qual o repórter busca pistas de significados que podem
ser usados para dar sentido às notícias. Ele deve
apreender o catálogo de interpretações
narrativas da experiência para compartilhar o entendimento
dos fatos com o público.
Mas,
ao assumir o papel do especialista, que tem como domínio
dar coerência e consistência à realidade,
ele acaba também por explicar como a realidade deve ser
compreendida. Nos jornais, fica clara a idéia de construção
narrativa que tenta organizar a experiência humana em
unidades temáticas.
O
terceiro traço da pré-configuração
da ação é o temporal, implícito
às mediações simbólicas da ação
e considerado indutor da narrativa. O estudo da estrutura temporal
traduz tanto a inquietação profunda do ser no
mundo, como a sua inserção histórica. O
autor toma o conceito de intratemporalidade - ou "ser-no-tempo"
- não como a representação linear do tempo,
mas como uma apreensão abstrata do tempo.
As
palavras "passado, presente e futuro" desaparecem
e o próprio tempo figura como unidade eclodida desses
três êxtases temporais. Isso não significa
que o tempo deixa de carregar traços irredutíveis
à representação linear, como as estações,
o dia, as horas. Mas indica que existem diferentes apreensões
do tempo.
O
tempo, segundo Halbwachs, [22] faz geralmente pesar
sobre nós um forte constrangimento, seja porque consideramos
muito longo um tempo curto, quando estamos impacientes ou aborrecidos,
ou temos pressa de acabar uma tarefa ingrata; seja porque, ao
contrário, nos pareça muito curto um período
relativamente longo, quando nos sentimos apressados e pressionados,
quer se trate de um trabalho, de um prazer, ou simplesmente
da passagem da infância à velhice, do nascimento
à morte.
O
tempo passa a ser visto então como um modo de inscrições
das atividades humanas na duração, conforme esclarece
Chesneaux [23] ao falar do conceito de temporalidade.
O pertencimento ao tempo e seu uso é a relação
que as pessoas e a sociedade estabelecem com a duração
do fluxo do tempo. Uma relação mutável,
própria de cada época.
Na
contemporaneidade, habitamos o tempo mundo, cujos primeiros
esboços surgiram no final do século XIX, com a
instituição da hora mundial, a partir do Meridiano
de Greenwich. Um tempo criado devido a interesses econômicos
de navegação, comunicação e comércio
internacional.
Arquitetou-se
um tempo sistematizado, que quantifica e racionaliza a ação
humana em função de um tempo demarcado pelo extremo.
O tempo econômico separa-se do tempo natural. O ritmo
é regulado pela lógica da produção,
que impõe uma perpétua auto-aceleração,
atualização, renovação. Chesneaux
[24] argumenta que o mundo tornou-se um espaço só.
Tudo o que acontece diz respeito a todos, da economia ao cotidiano
ordinário.
No
processo de regulação do tempo mundo, dado principalmente
pela lógica da produção, há categorias
sociais que cotidianamente desempenham papel fundamental de
imposição desse tempo universal.
Entre
os agentes econômicos e financeiros, locais ou internacionais,
os jornalistas e outros profissionais da mídia se transformam
em agentes de sedimentação e naturalização
deste novo tempo.
A
temporalidade passa também a ser conceito construído
pela narrativa dos meios de comunicação. Os universais
de aceleração, vitalidade e mudança, que
dominam o pensamento contemporâneo, são também
engendrados pelos mídias. [25] Acompanhar as
notícias é estar inserido no mundo, no tempo presente,
é tornar-se presente. É no narra que o indivíduo
se coloca ou aparece no tempo. Ao ler um jornal, o leitor se
insere no tempo da mídia.
A
segunda mimese alcança o estágio de configuração
da narrativa. É nesse estágio mimético
que se encontra o jornalista como "mediador", chamado
de jornalista-narrador nesse trabalho. Com a mimese II abre-se
o reino do como-se. O discurso, qualquer discurso, em sua totalidade
como imagem de alguma realidade, comporta uma relação
de correspondência com aquilo de que ele trata.
O
que o torna cognitivo em seus fins e mimético em seus
meios. Ricoeur nos explica que o lugar dado à mimese
II entre um estágio anterior e um estágio ulterior
não é uma tentativa de enquadramento, é,
sobretudo, para ressaltar a função de mediação
derivante do caráter dinâmico da operação
de configuração. Ressalta-se que todos os conceitos
relativos a esse nível designam operações.
Três
motivos são apontados pelo autor para explicar que a
intriga é mediadora: a mediação feita pela
intriga entre acontecimentos individuais e a história
como um todo, o caráter temporal da narrativa e a união
de elementos heterogêneos.
Primeiro,
a tessitura da intriga faz mediação entre acontecimentos
individuais e a história como um todo. Ela extrai uma
história sensata de uma pluralidade de acontecimentos
ou de incidentes; ou transforma acidentes e incidentes em uma
história. Um acontecimento passa a ser visto mais do
que uma ocorrência singular, enquanto uma história
deve ser mais do que uma enumeração de eventos
numa ordem serial.
Os
eventos devem ser organizados numa totalidade inteligível,
de tal forma que se faça possível perceber claramente
o tema tratado. [26] A mídia faz isso cotidianamente,
não só organizando eventos como operando a construção
de temas dignos de interesse público.
No
caso de Lúcio Flávio, destacamos os registros
de sua morte pelos jornais. [27] O companheiro de cela
que o assassinou, Mário Pedro da Silva, conhecido como
"Marujo", recebeu pouco destaque pelos jornais. O
tema não era o assassino, mas o morto notório.
Ele
foi entrevistado, fotografado, algumas falas de efeito foram
destacadas, como "é só mais um crime para
mim", porém o nome dele, quando lembrado, sempre
vinha seguido da explicação "assassino"
ou "matador de Lúcio Flávio". Os outros
dois pontos analisados por Ricoeur são o caráter
temporal da narrativa e a união de elementos heterogêneos.
A
tessitura da intriga é composta conjuntamente por fatores
tão heterogêneos quanto agentes, fins, meios, interações,
circunstâncias, resultados inesperados etc. A narrativa
faz aparecer numa ordem sintagmática todos os elementos
suscetíveis de figurar no quadro paradigmático
estabelecido pela semântica da ação. É
no ato de dar sentido aos fatos, através dos sistemas
simbólicos, que ocorre a transição de mimese
I para mimese II.
Possui
também caráter temporal próprio em duas
dimensões: uma cronológica, a outra não-cronológica.
A primeira caracteriza a história enquanto constituída
por acontecimentos. A segunda é a dimensão configurante
propriamente dita de transformação dos acontecimentos
em história.
Possuindo
um caráter temporal próprio em duas dimensões
- caracteres temporais combinam em proporções
variáveis os tempos cronológico e não-cronológico
- é constituída na mimese II não apenas
a dimensão episódica da narrativa, como a configurante.
A dimensão episódica, ligada ao tempo cronológico,
caracteriza a história enquanto construída por
acontecimentos.
A dimensão configurante, ligada ao tempo não-cronológico,
transforma os acontecimentos em histórias. Esse ato configurante,
próprio dos meios de comunicação na contemporaneidade,
consiste em considerar junto incidentes da história.
Assim, de uma diversidade de acontecimentos é possível
extrair uma unidade e a intriga inteira pode ser traduzida em
um pensamento, que é o assunto ou o tema próprio
daquele tempo narrado. [28]
Os
jornais dão a mesma forma e conteúdo a uma diversidade
de acontecimentos no tempo e no espaço. O tema "violência"
engloba uma série de diferentes acontecimentos configurados
da mesma forma, como conseqüência da "crise
da segurança pública", da "corrupção
policial", da "falta de policiamento" e etc.
No entanto, não são todos os acontecimentos, não
é toda a realidade, mas uma "parte" da realidade
trazida à tona e apresentada como um "todo".
Além
do entendimento de como os eventos são postos dentro
de um tema, o caráter temporal da narrativa e dos elementos
heterogêneos, que falamos até aqui, mais uma idéia
é apresentada pelo autor como a matriz geradora de regras
que ligam o entendimento e a intuição. Essa idéia
Ricoeur chama de imaginação produtora.
É
presente no imaginário social a percepção
que toda história tem princípio, meio e fim. Mesmo
que essa estrutura seja usada na ordem inversa para contar uma
história, em algum momento nos é apresentada a
explicação para que haja entendimento, ligação
entre os fatos iniciais e finais, que estão correlacionados.
Além
disso, a história estimula a intuição narrativa,
inerente ao ser humano, que tem toda as características
da tradição, ou seja, um depósito de dados
que nos fornecem noções para a compreensão
do tema tratado. No entanto, esse depósito é sempre
novo, alimentado pela transmissão sempre viva, ou seja,
um depósito reativado pelo ato de re-narrar uma história
capaz de enriquecer a tradição com traços
novos do tempo.
Assim,
a imaginação produtora nasce do paradigma que
se constitui na gramática que regula as composições
de novas obras, fornecendo as regras para experimentações
ulteriores. [29] E ela também se torna ferramenta dos
jornalistas para dar sentido às suas "estórias",
ligando entendimento e intuição.
Afinal,
indo além do registro dos fatos, notícias são
histórias. Num contexto noticioso, Darnton lembra de
ter escrito "estórias" sobre crimes que, embora
registrando acontecimentos verdadeiros, estavam enraizadas em
histórias mais amplas, como as "estórias
da desolação".
Quando
precisava de citações de pais sobre a morte de
seus filhos, costumava inventá-las, como também
faziam outros jornalistas, o que contribuía para uma
padronização. Isso porque os repórteres
sabiam o que uma "mãe consternada" ou um "pai
de luto" teria dito, possivelmente "(...) até
ouviríamos dizerem o que já estava em nossas cabeças,
e não na deles (...)". [30]
A
terceira e última etapa da construção narrativa
é a mimese III, que completa o ato mimético. O
texto apenas atinge seu pleno sentido quando é restituído
ao mundo do agir. A configuração feita pela mimese
II é então reconfigurada na leitura, na recepção.
Chega-se ao estágio que marca a interseção
do mundo de texto com o mundo do leitor.
Contamos
histórias porque finalmente as vidas humanas têm
necessidade e merecem ser contadas. Porém, nenhuma obra
é completamente fechada, ela tem lacunas, buracos, desafiando
o leitor a configurar vários aspectos por si mesmo. Nesse
momento, o leitor, abandonado pela obra, carrega o peso da tessitura
da intriga.
O
ato de leitura é uma operação que une a
mimese III e a mimese II. Ora, o que é comunicado por
uma narrativa é o mundo que ela projeta e que constitui
o seu horizonte. O leitor, por sua vez, pode fazer uma leitura
passiva ou criativa da história, acolhendo uma obra numa
situação de referência ao mesmo tempo limitada
e aberta a um horizonte mundo.
Para
Ricoeur, a referência é ontológica, é
a condição do ser-no-tempo. O ser, contudo, se
relaciona com o mundo e outras referências que não
apenas as suas. O ser no mundo segundo a narratividade é
um ser no mundo já marcado pela prática da linguagem
pré-figurada no agir humano. Essa co-referência
é dialogal.
Sendo
a linguagem uma coisa e o mundo outra, a narrativa está
sempre cruzando suas próprias referências com os
horizontes externos a si. O receptor não recebe apenas
o sentido da obra, mas também o seu sentido, a sua referência,
fazendo chegar à linguagem a sua experiência que,
em última análise, é a sua temporalidade
no mundo.
A
narrativa se apresenta como uma metáfora viva, uma transposição
do mundo em linguagem. A obra literária leva uma experiência
de mundo à linguagem e a linguagem devolve sua experiência
ao mundo.
O
enunciado metafórico arruína, abole o sentido
literal, revestindo-se de um alcance ontológico pleno.
Ricoeur afasta-se da visão dos que defendem a imanência
na obra. Para ele, a imanência está apenas nos
símbolos. O ser parte de uma condição ontológica,
de uma noção originária, que é vivenciada
no mundo e no tempo e que se externaliza na linguagem. [31]
Em
resumo, o leitor recebe o sentido e a referência da obra
a partir de seu próprio sentido e referência. É
ele o operador por excelência que assume, por seu fazer,
a ação de ler, concluindo o trabalho mimético
e dando vida à narrativa ao refigurá-la.
Entendendo
o fluxo narrativo
Na
história de ambas personagens estudadas fica claro que
elas ganham notoriedade a partir de um fato localizado que teve
grande repercussão via meios de comunicação.
A mídia passa a repercutir suas histórias de vida,
vasculhar suas relações, histórias de crimes
iniciais, a partir de um fato central de grande repercussão.
Dia após dia, eles vão sendo mais bem definidos
e encaixados em um fluxo narrativo, de forma e conteúdo,
específico. [32]
O conteúdo, nós consideramos como o fluxo do tema
da personagem criminal romantizada, ou seja, o que se fala.
A forma, como o fluxo das estratégicas narrativas usadas
pelos jornalistas-narradores, em outras palavras, como se fala
da personagem criminal romantizada nas duas épocas estudadas.
O
estudo do fluxo narrativo demonstra que a mídia reconstrói
o passado da personagem para explicar o presente e criar um
projeto de futuro esperado que também se concretizará
via meios de comunicação. O jornal insere a personagem
criminal num fluxo contínuo onde outras personagens criminais
se confundem com ela, revelam-se nela.
A personagem é enquadrada num fluxo contínuo de
notícias que perpassa décadas contando a mesma
história de tantas outras personagens criminais do presente,
do passado e do futuro. Evidencia-se, nessas narrativas registradas
nos periódicos, especialmente, as características
que compõem uma identidade criminal (re)marcada e que,
por isso, é mitológica.
Em
outras palavras, quando tratamos da personagem criminal Lúcio
Flávio Vilar Lírio características de outras
personagens serão rememoradas e (re)atualizadas nessa
personagem. Um ato de (re)configuração ritual,
que (re)confirma valores universais e insere a personagem em
um fluxo narrativo temático, por meio de estratégias
narrativas também pertencentes ao mesmo fluxo, capaz
de impor a certeza de que algo existe de uma maneira absoluta
na vida humana cotidiana.
Extrai-se
uma configuração de uma sucessão, ao mesmo
tempo em que a intriga vai revelando-se ao leitor como uma história
a ser seguida. Seguir uma história significa avançar
no meio de contingências e peripécias sob a conduta
de uma espera que encontra sua realização na conclusão.
Uma conclusão aberta para o encaixe de outras histórias
que darão seqüência ao fluxo narrativo.
A velha história é retomada do início pela
nova história, tida como nova por apresentar novo personagem,
mas que na verdade está recomeçando a história
antiga. O "ponto" colocado no final da velha história
é percebido como o ponto de vista que explica a história
como um todo, ou melhor, todas as outras histórias do
passado, do presente e do futuro.
Um
momento considerado como trabalho de memória, que tenta
fixar os aspectos que ordenam o tema tratado até então
e (re)afirma como a nova história deverá ser lida.
Em
outras palavras, compreender a história, é compreender
como e por que os episódios sucessivos levaram a essa
conclusão aceitável. O sentido do "ponto
final", - que a configuração da intriga impõe
à seqüência indefinida de incidentes -, tem
função estrutural de encerramento que pode ser
discernida muito mais no ato de re-narrar do que no de narrar.
Seguir as histórias é apreender os episódios
bem conhecidos como conduzindo a um fim que leva a um novo início.
O que ocorre é uma recapitulação constante
que inverte a ordem do tempo [33] e dá seqüência
ao fluxo narrativo.
Nos
falta ainda analisar a questão da memória, pois
entre o tempo e a narrativa falta a memória. Nós
utilizaremos o conceito de memória coletiva para complementar
o estudo da narrativa. Maurice Halbwachs, ao se interrogar sobre
a questão da memória, funda uma teoria de memória
coletiva, na qual inaugura a idéia de que o meio social
exerce influencia decisiva sobre a memória do indivíduo.
Se
todo indivíduo está em processo de interação
e troca com o grupo do qual faz parte, com o meio social e com
toda a sociedade, a memória é sempre coletiva,
ou seja, é uma construção de natureza social.
A
memória funda uma cadeia de tradição narrativa,
que transmite os acontecimentos de geração em
geração. Vai se tecendo assim uma rede que em
última instância todas as histórias constituem
entre si. Uma se une a outra articulando os elementos que as
compõem.
Nesse
ponto, elas se apresentam como narrativas míticas. Ou
seja, apresentam elementos de outras histórias cujas
significações já estão na mente
das pessoas. Os temas das narrativas míticas são
atemporais, apenas muda a inflexão, que cabe à
cultura.
Mesmo
antes de ler a notícia, o sujeito está emaranhado
na narrativa e a história pode perfeitamente acontecer
a alguém antes que alguém a conte. Isso porque
as histórias vividas estão imbricadas umas nas
outras formando um pano de fundo. Narrar, seguir, compreender
histórias é só a continuação
dessas histórias não-ditas. A pré-história
da história é o que vincula a um todo mais vasto.
É
preciso examinar como é feito esse vínculo a um
todo mais vasto. A criação de um fluxo narrativo
que perpassa inclusive décadas contando a mesma história
- que se difere apenas por nomes, datas e números - denuncia
a existência de um continuum narrativo de referência.
Avançando
na consideração de notícias como narrativas,
podemos pensar que as matérias noticiosas de crimes,
como as que serão estudadas, do ponto de vista do texto,
possuem marcas singulares e uma delas é que ela é
construída nos fatos anteriores ao próprio acontecimento.
Voltamos ao ponto já explorado de que as notícias
criminais apresentam duas histórias: a do crime e a de
seus antecedentes que envolvem outras notícias semelhantes.
[34]
Notas
[1]
Faremos a exposição de alguns traços da
vida dos personagens a partir de dados encontrados em fontes
jornalísticas - jornais, revistas e livro. No entanto,
não pretendemos fazer uma reconstrução
memorialística, reconhecendo as limitações
e complexidades de um trabalho como este.
[2]
A ESTATÍSTICA do fugitivo. Jornal do Brasil, Rio
de Janeiro, fev 1974.
[3]
LOUZEIRO, José. Lúcio Flávio: passageiro
da agonia. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
[4]
ASSASSINATO desde 1972 era previsto. Jornal do Brasil,
Rio de Janeiro, 30 jan. 1975. 1º Caderno, p. 18.
[5]
NOVE anos de fugas e crimes. O Globo, Rio de Janeiro,
2 dez. 1972.
[6]
AS RAZÕES do fugitivo numa carta a O Globo,. O
Globo, Rio de Janeiro, 31 jan. 1974.
[7]
UM delinqüente, mais de 500 processos. O Globo,
Rio de Janeiro, 30 jan. 1975. Grande Rio, p. 13.
[8]
LEITE, Virginie. A polícia é burra. Veja,
São Paulo, 25 out. 1995. Entrevista, p. 7-10.
[9]
RIBEIRO JÚNIOR, Amauri. Seqüestrador se entrega
em Goiás. O Globo, Rio de Janeiro, 13 out. 1995.
O País, p. 13.
[10]
JÚNIOR, Waldomiro. Mil policiais caçam seqüestrador
na Bahia. O Globo, Rio de Janeiro, 5 set. 1995.
[11]
SEQUESTRADOR escapa novamente. O Globo, Rio de Janeiro,
5 out. 1995. O País, p. 9.
[12]
RIBEIRO JÚNIOR, op. cit. 13 out. 1995.
[13]
MACEDO, Ana Paula; MOREIRA, Marco Antônio. Pareja desfruta
de mais de 6 horas de fuga e fama. O Globo, Rio de Janeiro,
5 abr. 1996. O País, p. 8.
[14]
QUERO mudar de vida. O Crime não compensa. O Globo,
Rio de Janeiro, 8 abr. 1996. O País, p. 4.
[15]
MARQUES, Hugo. Pareja é morto quatro dias após
descoberta de túnel. O Globo, Rio de Janeiro,
10 dez. 1996. O País, p. 8.
[16]
RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa (tomo I). Campinas,
São Paulo: Papirus, 1994.
[17]
ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética.
Rio de Janeiro, Ediouro, 1998.
[18]
SANTO AGOSTINHO. Confissões. 10ª ed. Petrópolis:
Vozes, 1990.
[19]
RICOEUR, 1994, p. 86.
[20]
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem.
São Paulo: Hucitec, 1995.
[21]
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas.
Zahar Editores: Rio de Janeiro, 2002, p. 20-23.
[22]
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São
Paulo: Vértice, 1990, p. 90-91.
[23]
CHESNEAUX, Jean. "Temps de la mondialisation, mondialisation
du temps". In: Habiter le temps. Paris: Bayard Éditions,
1986, p.189-205.
[24]
Idem, Ibidem.
[25]
BARBOSA, Marialva. "Meios de Comunicação,
memória e tempo: a construção da "redescoberta
do Brasil". Texto final da pesquisa de pós-doutoramento
em Comunicação Social realizada no Laboratoire
d'antrpologie des institutions et des organisations sociales
- LAIOS/ Centre National de la Recherche Scientifique.
França - Paris, de setembro de 1998 a agosto de 1999.
[26]
RICOEUR, op. cit., p. 103.
[27]
De acordo com o que encontramos nos jornais, Lúcio Flávio
Villar Lírio foi morto em 29 de janeiro de 1975. Numa
madrugada, após desentendimentos, "Marujinho"
desferiu vários golpes no peito de Lúcio Flávio
utilizando um pedaço de vergalhão.
[28]
RICOEUR, op. cit., p. 104.
[29]
RICOEUR, op. cit., p. 107.
[30]
DARNTON, Robert. "Toda notícia que couber a gente
publica". In: O beijo de Lamourette: mídia, cultura
e revolução. São Paulo: Companhia das
letras, 1990, p. 70-97.
[31]
Ricoeur também trata nessa parte sobre o designo referencial
e sobre a pretensão de verdade, lembrando a existência
de duas grandes classes de discursos narrativos: a narrativa
de ficção e a historiografia. Para ele, é
inegável a assimetria entre os modos referenciais da
narrativa história e da narrativa ficcional. Só
a historiografia pode reivindicar uma referência que se
inscreve na realidade empírica. No entanto, o uso de
vestígios do passado retira algo de referência
metafórica comum a todas as obras poéticas.
[32]
Vale ressaltar que os fluxos do tema e das estratégias
narrativas foram separados apenas para fins de análise,
mas são percebidos como intrinsecamente ligados e compõe
o fluxo narrativo.
[33]
RICOEUR, op. cit., p. 105-106.
[34]
BARBOSA, Marialva. O jornalismo, o sensacional e os protocolos
de leitura. Texto Mimeo, 2004.
*Mirella
Bravo de Souza é graduada em Comunicação
Social, habilitação Jornalismo, pela FAESA/ES;
Especialista em Comunicação Organizacional pela
Faculdade Cândido Mendes de Vitória/ES; MBA Liderança
e Gestão de Pessoas pelo Centro Universitário
Vila Velha/ES; Mestre pelo Programa de Pós-graduação
em Comunicação da Universidade Federal Fluminense/RJ;
professora do curso de Comunicação Social da Estácio
de Sá de Vitória/ES.
Voltar
|

