Artigos
Reprodução
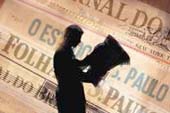 |
Credibilidade
e estratégia
na indústria
de bens culturais
Por
Marcelo Januário* |
|
Resumo:
|
"Será
o consumo -ou a falta dele- o melhor dos juízes?"
Luís Antônio Giron [1]
|
Este
artigo analisa alguns aspectos da submissão do jornalismo
impresso -enquanto prática informativa independente e
de orientação pública- ao processo de promoção
mercantil de bens artístico-culturais na era pós-industrial.
A partir do estudo de casos, reflete sobre a "sintonia"
dos maiores jornais diários e revistas semanais do país
com os conglomerados transnacionais de produção
simbólica, sejam editoriais, televisivos e/ou cinematográficos.
O
mote de sua argüição reside na suposição
de ameaça à cidadania e ao debate democrático
que representam as ações coordenadas de marketing
que, inequivocamente, vêm sendo continuamente empreendidas
na esfera jornalística como vias prioritárias
de captação de recursos.
Pressionado pela queda das vendas dos produtos e pelo endividamento
das empresas, o jornalismo abdica de uma das suas principais
atribuições sociais -a análise crítica-
voltado ao consagrado e ao massificado; utilizando estratégias
como o "embargo", muitas vezes justificadas pelo medo
do furo, mas de fato embasadas pela conveniência gerencial
da publicidade dissimulada, uma prática presumivelmente
lesiva ao direito de informação do cidadão
e à pluralidade e emergência de manifestações
coletivas espontâneas e genuínas.
De
início, nosso pressuposto é que um modelo industrial
de jornalismo chega ao seu epílogo e que em todos os
países há o ressentimento do esvaziamento crítico
na cobertura de cultura e arte. Os profissionais, artistas,
jornalistas, professores, publicistas, e até mesmo leitores
e consumidores, fazem coro ao condenar a cobertura jornalística
de cultura, presa à agenda, superficial, atrelada ao
consagrado.
Dentre
os motivos visíveis, apontam o endividamento das empresas,
o alto preço do papel, o rodízio constante de
jornalistas, a "juvenilização" das redações,
a "promiscuidade" com o marketing, dentre outros,
que levaram à queda de qualidade e ao apelo às
reformas gráficas, à "venda casada"
com bugigangas editoriais e à liquidação
do espaço do papel-jornal.
Vetores
- Antes, dada a dificuldade de definição conceitual
mesmo entre especialistas, consideramos neste trabalho a acepção
mais crível de jornalismo "como um processo social
que se articula a partir da relação (periódica/oportuna)
entre organizações formais (editoras/emissoras)
e coletividades (públicos receptores), através
de canais de difusão (jornal / revista / rádio
/ televisão / cinema) que asseguram a transmissão
de informações (atuais) em função
de interesses e expectativas (universos culturais ou ideológicos)"
(Marques de Melo, 2003:17). Como mediação coletiva
o jornalismo é uma necessidade social com os atributos
de universalidade e instantaneidade.
Neste sentido de processo contínuo, ágil e veloz,
a notícia pode ser entendida como "informação
nova" (Dijk, 1990:16) com os fundamentos de, segundo classificação
de Fraser Bond, "informar, interpretar, orientar e entreter".
Segundo Marques de Melo, seus núcleos de interesse residem
na "informação (saber o que se passa)"
e na "opinião (saber o que se pensa sobre o que
se passa)". Assim, os gêneros, definidos a partir
da evolução dos acontecimentos e da relação
entre os mediadores (jornalistas) e os protagonistas (personalidades
ou organizações), se dividem em informativo (nota,
notícia, reportagem e entrevista) e opinativo (editorial,
comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura
e carta).
A
especificidade do jornalismo cultural, entretanto, permanece
definitivamente ambígua e em aberto, sendo que para o
pesquisador catalão Iván Tubau significa "la
forma de conocer y difundir los productos culturales de una
sociedad a través de los medios masivos de comunicación".
[2] Sobre a definição de cultura, a referência
é o antropólogo norte-americano Clifford Geertz
que, conforme leitura de Chartier, a conceitua como "um
padrão, transmitido historicamente, de significados corporizados
em símbolos, um sistema de concepções herdadas,
expressas em forma simbólicas, por meio das quais os
homens comunicam, perpetuam e desenvolvem o seu conhecimento
e as atitudes perante a vida". [3]
Portanto,
cultura, entre tantas outras coisas, é compartilhar conhecimento.
Entretanto, não há como se definir o jornalismo
cultural sem a "crítica", pois tal procedimento
equivaleria a falsificá-lo, seria reduzi-lo à
simples informação, a um agendismo inócuo,
e privá-lo de alguns de seus principais componentes:
a argúcia sobre o tempo e a reflexão sobre a experiência.
Em seu modelo ideal:
"Los
suplementos son peligrosos, porque separan la cultura del
resto del periódico, pero permiten dar más información
y ofrecen un espacio específico para la crítica,
la reflexión e el análisis. Las secciones culturales
de la prensa escrita pueden luchar contra la pasividad, introducir
elementos críticos para convertir esa cultura amenazada
de falsificación en algo vivo y eficaz." [4]
Inúmeros
trabalhos já foram escritos para se esboçar o
arcabouço teórico que o tema encerra. Para nós,
entretanto, basta imaginarmos que o exposto seja o ideal "humanista"
da comunicação. E que, como suspeitamos, a realidade
se configura assaz distinta.
Credibilidade
- Se, como vimos, o "humanismo" -ou o que restou
dele nos tempos pós-industriais- nos incita a lutar contra
a "passividade", outros aspectos aparentam ser mais
decisivos no cotidiano dos veículos comunicacionais.
Para um jornalista experiente como Jotabê Medeiros, repórter
e editor de cultura com muitos anos de profissão nas
redações dos principais jornais do Brasil, se
a "principal moeda de um meio de comunicação
é a sua credibilidade", o jornal não pode
colocá-la "em cheque" ao, por exemplo, legitimar
a "exposição de um artista medíocre".
O
jornal é julgado pelo público leitor continuamente,
que muitas vezes não tem "capacidade" para
isso, mas que está na base da tão propalada "credibilidade"
do meio. Não pode haver equívocos, sob pena de
descrédito. A conseqüência mais natural deste
raciocínio seria, no nosso entender, a passiva aposta
no consagrado, o bloqueio dos "fluxos vitais" da nossa
experiência simbólica, na paralisação
da cultura, da criação e da crítica.
Assim
também a reificação do "consagrado"
atende a interesses comerciais evidentes, impedindo que o novo
surja espontaneamente e que a reflexão coordene as escolhas
processuais. O jornalismo se enquadra nesta estrutura como chave
intermediária de persuasão, sedução,
imposição, esquecimento. E de confiança.
"Se
a credibilidade é o maior patrimônio de um meio
de comunicação, o exercício permanente
da crítica é um dos elementos que mais lhe emprestam
lastro. Não a crítica como sinônimo de
opinião, apenas, mas enquanto postura. O olhar crítico
e ponderado do meio de comunicação sobre cada
fato ou idéia relevante estabelece uma relação
de confiança entre ele e seus 'clientes' (leitores,
ouvintes, espectadores)." [5]
Por
outro lado, o papel social do jornalista também é
invocado para fazer frente ao inescapável desempenho
de títere da indústria de consumo. Contrapor o
ambiente "mediado por subterfúgios" em que
apenas os grandes e consagrados assuntos têm a prioridade,
ambiente no qual o jornalista "perdeu o compromisso com
o desejo de revelar coisas", é o grande desafio.
Aqui, sob os refletores da vida real, o "humanismo"
tão propalado já se reduziu à simples sobrevivência
existencial do profissional.
"O
que é fato, também não sejamos ingênuos.
O jornal e a revista são produtos como quaisquer outros
produtos, são feitos por empresas que visam lucros
como empresas de quaisquer outros ramos. Vamos ter consciência
de que o nosso papel é fazer sim um produto que seja
vendável, mas não vamos perder os parâmetros
do que seja o nosso papel enquanto jornalista." [6]
Aparentemente,
e apesar do "nosso papel enquanto jornalista" pressupor
a quebra da "passividade", o jornalismo cultural mostra-se
cada vez mais sintonizado com a indústria, ao passo que
as empresas jornalísticas enfrentam a falência
reduzindo gastos com profissionais, diminuindo o espaço
para a crítica ensaística nos cadernos, investindo
no serviço e na reportagem de divulgação;
atrelando-se literalmente ao pêndulo oscilante da oferta
cultural industrializada.
Engrenagens
- Com relação às engrenagens que regem
as relações produtivas (e produzem a "falsificação
da cultura"), no Brasil o professor Ciro Marcondes Filho
foi um dos intelectuais que há tempos desenvolveram sólidas
pesquisas acadêmicas para encontrar a raiz do processo
jornalístico na estrutura da sociedade capitalista. Nas
conclusões de suas explorações, observamos,
é notória a constatação de que a
atividade jornalística nasceu no núcleo da lógica
do modo de produção capitalista, sendo, entretanto,
muito distinto dele.
"[A
atividade jornalística] só existe -pelo menos
nos termos que conhecemos hoje- transformando informações
em mercadorias e colocando-as, transformadas, alteradas, às
vezes mutiladas segundo as orientações ideológico-políticas
de seus artífices, à venda. Neste sentido ela
é estruturalmente montada como empresa capitalista
e desaparece com a supressão das condições
de sobrevivência do capital." [7]
De
forma análoga, a contradição entre os objetivos
jornalísticos e econômicos também foi investigada
pelo Coletivo de Autores "Imprensa", grupo alemão
de intelectuais empenhados justamente na pesquisa sobre as relações
entre imprensa e capitalismo. Para este coletivo, na empresa
de jornais e revistas, "a propaganda se coloca como produção
de necessidades antes da produção segundo necessidades
do leitor" (Marcondes Filho, 1984:49).
Assim,
a apresentação jornalística de anúncios
publicitários, "alquimia" realizada com a mistura
da parte estritamente publicitária com a redacional,
é muito eficaz na descaracterização do
caráter dos anúncios, iludindo o leitor quanto
à natureza dos textos ao vender publicidade por jornalismo,
persuasão por informação.
Os
conteúdos são veiculados de acordo com a posição
e a função dos órgãos de imprensa
na produção geral de mercadorias, sendo que eles
próprios assumem dupla forma de mercadoria, no universo
do anunciante e também no do leitor.
Para
o editor e para o dono do jornal, a contradição
entre o interesse informativo-comunicativo e o interesse econômico
privado resolve-se como um problema "puramente calculatório":
"o valor de uso comunicativo da mercadoria jornal interessa-lhe
apenas à medida que este se mostra imprescindível
como suporte do valor econômico de troca de seu produto,
para poder trocar seus jornais (inclusive seu espaço
publicitário) por dinheiro e com isto, finalmente, em
contrapartida, poder valorizar seu capital investido nos meios
de difusão" (Marcondes Filho, 1984:47).
Surge
outro ponto: o leitor passa a ser "desprezado" quando
todos os grandes veículos editam conteúdos muito
semelhantes e quando passa a ser tratado unicamente como comprador
de jornal. Comprador, aliás, a quem é jogada a
culpa pela péssima situação em que (invariavelmente)
se encontra a imprensa, ao impingir-lhe uma "falta de nível"
merecedora do que lhe é servido.
|
O
ciclo se fecha quando se sugere que este leitor, que merece
a imprensa que tem, será oportuna e definitivamente
educado e escla-recido pelos próprios jornais,
detentores de um conhecimento não aproveitado.
Esta
atitude, presumivelmente, "desdenha o povo e (...)
coloca o comportamento do leitor, negativamente avaliado,
como constante antropológica". (Marcondes
Filho, 1984:133)
|
Reprodução

Ciro Marcondes Filho
|
Nesta
relação desigual de forças, o jornalista,
em que pese sua formação deficiente ou mesmo a
atuação complacente, padece de uma "liberdade
passiva" e não tem qualquer controle sobre a orientação
política e econômica das reportagens e dos textos-anúncios,
sendo que, como qualquer outro assalariado, oferece sua força
de trabalho e responde ao proprietário, continuamente
ameaçado pela ameaça do desemprego.
Como
pares gêmeos, imprensa e capitalismo vivem em um ambiente
no qual "quem falha economicamente está também
jornalisticamente liquidado". O desenvolvimento técnico
aprofundou esta conexão, colocando definitivamente o
valor de troca acima do valor de uso.
"A
'nova apresentação periódica' da aparência
do valor de uso, a agilidade formal, o colorido e a diversidade
('compaginação moderna', mais fotos, papel acetinado,
novas cores, novos tipos gráficos, suplementos coloridos,
'comunicados de todo o mundo', 'informes exclusivos', mais
páginas, 'o mais novo', o 'mais sensacional' etc.)
servem somente ao objetivo de realizar o valor de troca em
forma de dinheiro, sem melhorar o valor de uso para o leitor."
[8]
Cultura
da destruição - Como isso se desdobra na atualidade?
Vejamos, por exemplo, as idéias de Castells, que discorre
sobre o impacto do "informacionalismo" nas sociedades
pós-industriais, transformação que, na
visão unificada e não-catastrofista do autor,
inclui o surgimento da sociedade em rede, uma nova estrutura
social dominante entendida como um conjunto de nós interconectados
em tempo real e acompanhada de uma economia informacional global,
assim como de uma nova cultura da virtualidade real, onde as
aparências se transformam na experiência.
O
ponto que interessa é quando o pensador espanhol ressalta
que, no início desse processo de transformação,
"a estruturação econômica dos anos
80 induziu a várias estratégias reorganizacionais
nas empresas comerciais" (Castells, 2000:174).
Isto
significa que a aceleração da transformação
tecnológica se deu conjuntamente com o processo de reestruturação
capitalista. Visando o aumento da produtividade e da competitividade
"no novo paradigma tecnológico e na nova economia
global", buscou-se redefinir os processos de trabalho e
as práticas de emprego, com inovações como
o modelo de "produção enxuta", que possibilitariam
a economia de mão-de-obra ao automatizar os trabalhos,
eliminar tarefas e suprimir várias camadas administrativas.
A
vanguarda deste processo foi localizada no método japonês
de gerenciamento, que, utilizando modelos de redes e sistemas
de subcontratação, aboliu a função
de trabalhadores profissionais especializados para torná-los
especialistas multifuncionais.
Seu impacto na "Galáxia de Comunicação"
foi automático, já que o "conceito de cultura
de massa, originário da sociedade de massa, foi expressão
direta do sistema de mídia resultante do controle da
nova tecnologia de comunicação eletrônica
exercido por governos e oligopólios empresariais"
(Castells, 2000:356), embora os efeitos diretos no jornalismo,
aparentemente, não sejam os mesmos em todos os lugares,
uma vez que, ao menos na Europa, "Jornais e revistas especializaram-se
no aprofundamento de conteúdos ou enfoque de sua audiência,
apesar de se manter atentos no fornecimento de informações
estratégicas ao meio televisivo dominante" (Castells,
2000:356).
O
"modelo enxuto" dependia majoritariamente da economia
da mão-de-obra, resultado da combinação
de fatores como automação, controle computadorizado
de trabalhadores, redução da produção
e terceirização do trabalho. Ao utilizar-se trabalhadores
temporários e empregados de meio-expediente, a mão-de-obra
fixa e volumosa tornou-se dispensável e substituível,
em claro contraste com a era industrial que predominou durante
os séculos XIX e XX. A reformulação dos
parques gráficos e a reestruturação organizacional
dos principais jornais brasileiros no período se enquadram
perfeitamente nestas transformações a que se refere
Castells:
"Existe
uma concorrência global, forçando redefinições
constantes de produtos, processos, mercados e insumos econômicos,
inclusive capital e informação. (...) O espírito
empresarial de acumulação e o renovado apelo
do consumismo estão impulsionando formas culturais
nas organizações do informacionalismo."
[9]
A
cultura do efêmero se apodera da "empresa em rede",
com as decisões econômicas estratégicas,
experiências e interesses se alternando conforme as necessidades
surjam e se sucedam, adaptando-se aos ambientes de apoio e às
estruturas do mercado. Mediado pelo computador e pelas ferramentas
tecnológicas, o "espírito do informacionalismo"
torna-se uma "cultura da destruição",
virtual e multifacetada, com uma geometria variável que
contrasta com a rigidez dos códigos culturais estanques
e é composta "de muitas culturas, valores e projetos
que passam pelas mentes e informam as estratégias dos
vários participantes das redes".
Como
resultado desta nova cultura empresarial que transformou os
processos de trabalho, ocorreu a valorização relativa
das profissões mais claramente informacionais, como administradores
e técnicos, mas também o maior destaque aos serviços
relacionados à administração de capitais
que aos serviços ligados à produção.
Baseada na flexibilidade e na atuação em rede,
em termos econômicos a concorrência global promoveu
uma corrida tecnológica e administrativa entre as empresas
em todo o mundo.
Transplantando
tais considerações para o universo jornalístico,
podemos inferir paralelismos com este quadro que se mostrem
reveladores ou sugestivos, como aparentam ser o ciclo interminável
de demissões em massa que assolou a imprensa brasileira
desde então, a perda de controle da qualidade dos serviços
terceirizados, a subordinação completa dos produtores
aos administradores do jornal, a perda irrecuperável
de profissionais gabaritados (até para outras mídias),
o próprio desvirtuamento da noção de cultura,
a perda de contato com a realidade das ruas, os vícios
na linguagem provocados pelo uso do computador, a capitulação
do noticiário à agenda industrial internacional
etc.
Se
esta é uma situação transitória
e ainda mal resolvida no Brasil, situado na periferia do capitalismo,
as perspectivas de desenvolvimento do novo sistema de comunicação
eletrônica trazem no fundo preocupação para
as expressões culturais (senão ainda para a sua
cobertura jornalística impressa), que deduzimos da ótica
analítica "otimista" de Castells:
"O
que caracteriza o novo sistema de comunicação,
baseado na integração em rede digitalizada de
múltiplos modos de comunicação, é
sua capacidade de inclusão e abrangência de todas
as expressões culturais. Em razão de sua existência,
todas as espécies de mensagens do novo tipo de sociedade
funcionam em um modo binário: presença/ausência
no sistema multimídia de comunicação.
Só a presença nesse sistema integrado permite
a comunicabilidade e a socialização da mensagem.
Todas as outras mensagens são reduzidas à imaginação
individual ou às subculturas resultantes de contato
pessoal, cada vez mais marginalizadas." [10]
Após
o anúncio da "marginalização"
inevitável, Castells ainda tenta nos dizer que não
é bem assim, que não temos nada a temer, a não
ser... o que já está perdido, ameaçado
de controle e dominação completa pelos "emissores
centrais".
"No
entanto, não quer dizer que haja homogeneização
das expressões culturais e domínio completo
de códigos por alguns emissores centrais. É
precisamente devido a sua diversificação, multimodalidade
e versatilidade que o novo sistema de comunicação
é capaz de abraçar e integrar todas as formas
de expressão, bem como a diversidade de interesses,
valores e imaginações, inclusive a expressão
de conflitos sociais. Mas o preço a ser pago pela inclusão
no sistema é a adaptação a sua lógica,
a sua linguagem, a seus pontos de entrada, a sua codificação
e decodificação." [11]
É
de se imaginar no que implicará a ressalta feita por
Castells -"o preço a pagar"- quando ele cita
a necessidade de adaptação à lógica
e à lingua-gem neste novo sistema de comunicação
integrada, condição sine qua non para que tal
integração ocorra, além de provocar incômodo
à democracia a idéia de mensagem binária
excludente, onde o que não está em circulação
nos meios praticamente não tem existência coletiva.
Sincronia
-
Um aspecto muito perceptível da atual conjuntura "global",
portanto, é a impossibilidade de independência
do jornalismo cultural em relação à indústria
de bens culturais. O jornalismo é utilizado oportunamente,
na forma de falsa reportagem com intenções publicitárias,
como também é descartado e até afastado,
quando por uma leviandade crítica pode ter a infeliz
idéia de entrar em dissonância com os interesses
comerciais. Para a indústria, que mantém os jornalistas
como reféns, crítica desfavorável não
tem vez. Vejamos alguns casos exemplares.
"A
distribuidora brasileira de 'A Reconquista' não fez
sessões do filme para a imprensa. A tática é
usada há muito tempo pelos estúdios americanos
para esconder da imprensa filmes vagabundos. (...) É
questão de matemática: nos EUA, a bilheteria
do fim-de-semana de estréia de um filme pode representar
até 30% do faturamento total da fita. Se as críticas
publicadas forem negativas, o público cai, e o estúdio
sai perdendo. A solução é não
exibir o filme para a imprensa. Assim, as críticas
só saem dois ou três dias depois da estréia,
tempo suficiente para que os espectadores possam gastar dinheiro
com o abacaxi." [12]
Este
"estelionato" aparentemente é visto sem maiores
preocupações pelos agentes do jornalismo. O que
se censura é o esclarecimento, em um acordo "financeiro"
que ludibria o leitor-consumidor de jornais, revistas e bens
artístico-culturais. Esta estratégia, que coloca
o jornalismo cultural como mera "caixa de ressonância
da indústria do entretenimento", também pode
ser exemplificada por um exemplo mais recente.
Por
ocasião do lançamento de um livro de sucesso,
a editora enviou para a os principais jornais brasileiros os
exemplares acompanhados por um "texto de orientação"
destacado: "Atenção: livro distribuído
à imprensa com embargo até sexta-feira 10/12 (a
publicação de matérias e resenhas só
está liberada a partir de sábado 11/12)".
O
ombudsman da Folha de S.Paulo (em 2005) explica o significado
de embargo nestas circunstâncias: "Embargo
é como os jornalistas designam o acordo em que os meios
de comunicação abrem mão da informação
exclusiva e se comprometem a publicar juntos determinada notícia
no dia escolhido pela fonte, que pode ser uma editora, uma gravadora
ou um instituto de pesquisas." [13]
Seguindo
a regra, como já ocorrera em tantas outras oportunidades,
no prazo estipulado os jornais publicaram "cadernos culturais
muito parecidos" -um material "quase que exclusivamente
descritivo"- onde anunciam com alarde o grande lançamento
editorial. A existência do embargo motivou o referido
ombudsman a concluir que a "impressão que fica é
que os jornais estão mais a serviço das editoras
do que de seus leitores.
A pergunta é: quem ganha com esta política?"
Justificado pelas editoras como uma garantia de "divulgação
justa e equânime de suas informações na
grande imprensa, sem privilégios", o embargo evitaria
a "'garantia de exclusividade' exigida por alguns veículos
como moeda de troca para publicação de resenhas,
entrevistas ou reportagens (...) privando seus leitores da informação
[quando] deixam de publicar determinadas matérias só
porque a concorrência já as antecipou". Em
outras palavras, um estratagema para se evitar o furo.
Aos
jornais obcecados pela exclusividade, este aspecto pode bastar.
Se um der, os outros (sem tanta preocupação com
os leitores) não o fazem, e prejudicam a estratégia
de lançamento e a cobertura. As editoras, que manipulam
o noticiário com a moeda da "exclusividade",
obviamente saem ganhando com a obsessão pelo furo, pois
com o embargo têm "seu produto visível nos
principais meios de comunicação do país".
Mas,
como afirma o editor do Caderno 2 Dib Carneiro Neto, o "leitor
habitual dessa área tem um perfil no qual o que importa
não é só 'o que' se publica, mas 'como'
se publica". Portanto, o ponto "é descobrir
até onde vai a subordinação a este mercado
e onde fica o exercício crítico e diferenciado
do jornalismo". [14]
Ilustrando
tal "subordinação", outro caso recente
ocorrido no segmento de revistas expôs cruamente uma faceta
que transcende ao "embargo".
Em
18 de março de 2005, em uma estratégia de marketing
inédita na história da imprensa brasileira, as
três principais revistas semanais brasileiras -Veja (circulação
média semanal em 2004 de 1,115 milhão de exemplares),
Época (428 mil exemplares) e Istoé (372 mil exemplares)-
foram às bancas com capas sobre o mesmo assunto, o novo
livro do escritor Paulo Coelho.
Reprodução
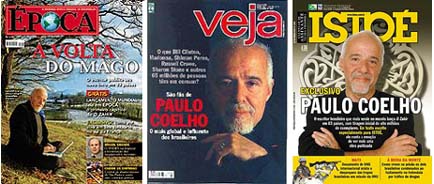
Coincidência
polêmica As maiores revistas do país,
na mesma semana.
|
O
fato gerou controvérsia e indignação nos
leitores, que escreveram para o ombudsman da Folha opinando
que todos "os meios, sem exceção, caíram
na armadilha fácil de transformar em notícia as
bobagens de celebridades".
Na
opinião lacônica de Marcelo Beraba, o episódio
indica que atualmente o jornalismo "é mais mercado
do que notícia e de que as capas fazem parte de uma estratégia
comercial que envolve as redações". [15]
Neste cenário, a credibilidade do jornalismo parece mesmo
coisa do passado. Trata-se, supomos, de uma clara submissão
jornalística ao que chamamos de metabolismo econômico,
indefensável em sua agressão à cidadania.
Esgotamento
- "Que jornalismo é esse?", [16]
perguntam então os leitores. O jornalista enfrenta um
problema ético e de consciência. Se ontem era a
ditadura militar que o coibia, hoje é a indústria
e o desemprego que lhe põem à prova. Mas o predomínio
evidente é mesmo do "colaboracionismo".
"(...)
o jornalista que se submete cegamente a esse estado de coisas
pratica um tipo de corrupção, de 'colaboracionismo'.
Por exemplo: no governo militar, havia também jornalistas
que praticavam um jornalismo acrítico, subordinado
aos interesses do governo, acovardado. Esse é um problema
ético, eternamente ligado à prática da
profissão." [17]
Mas
as mudanças não tardarão, pelo que indicam
os recentes acontecimentos. Em um momento em que, por exemplo,
os grandes títulos da imprensa cotidiana internacional
passam por crises de crescimento e, pior, "sofrem importantes
mudanças" (troca constante de diretores de redação
e recapitalização, quando não meramente
venda), o modelo econômico que os sustentam há
mais de um século parece, enfim, ter se esgotado.
A
estratégia de "baixar o preço de seu
jornal para multiplicar o número de leitores" e
atrair publicidade perdurou por muito tempo em quase todos os
países do mundo com grandes empresas de comunicação.
Significou a ruptura para uma nova fase da história da
imprensa, que acompanhou a modernização das sociedades
ocidentais e que, aparentemente, chega enfim ao limiar da entropia.
Deve-se
reconhecer que foi um modelo de inegável sucesso. Desde
meados do século XIX, quando os jornais dos países
centrais (e depois nos paises periféricos) se industrializaram
e adotaram a estratégia publicitária, o formato
moderno da imprensa se pronunciou e se impôs como única
opção viável de sobrevivência editorial.
"Havia
nascido a imprensa moderna, com seu gosto pela reportagem
e as novidades, pelo sensacional e as manchetes. Ela vive
desde então sobre um duplo teorema, aparentemente muito
simples: vender mais barato para vender mais; financiar a
empresa ao mesmo tempo pela venda do jornal e pela publicidade.
Mas esse modelo hoje está comprometido, no plano do
conteúdo quanto no plano econômico. E tudo leva
a crer em um fim de ciclo histórico." [18]
A
submissão à publicidade e ao mercado visivelmente
chegou ao limite, se não como doutrina econômica,
ao menos no conceito de jornalismo como atividade independente
e de comprometimento democrático com a sociedade civil,
que seja ao mesmo tempo "indispensável, confiável
e prazeroso, com notícias precisas, contextualizadas
e bem escritas, com um cardápio diversificado, instigante
e inteligente". [19]
Na
verdade, fatos como os que destacamos na mídia nacional
mostram que a dependência econômica compromete a
"singularidade" e a "relevância" dos
jornais no mundo todo. No caso da França, onde até
recentemente gigantes jornalísticos como Le Figaro e
Le Monde passavam por sérias dificuldades, a receita
publicitária dos jornais tende a diminuir e as mídias
concorrentes -audiovisuais, como a televisão e a internet,
e impressas, como as revistas- absorvem o fluxo publicitário
que outrora se concentrava neles, os jornais. Como escreve o
jornalista Laurent Greilsamer, "de uma posição
de monopólio, a imprensa cotidiana passou para uma situação
de sitiada".
Ao
menos naquele país os jornais ainda são vistos
como "engajados demais". Os leitores já não
"se encontram mais nos jornais", ou por serem tão
"parciais" e "insípidos" para os
mais velhos quanto são "difíceis" para
os mais jovens.
À
parte o caso das revistas semanais, que vivem outra realidade,
o fato é que jornais impressos pelo mundo afora buscam
soluções as mais variadas, como diminuir o formato
-tal qual os tablóides ingleses, que "perdem sua
soberba e uma marca de identidade centenária, mas ganham
leitores", e os jornais alemães, que adotaram "uma
versão reduzida, mais leve e barata"- ou recorrem
ao já gasto expediente da "venda casada" dos
jornais com os objetos estranhos ao jornalismo como as "coleções
de livros, enciclopédias ou DVD's".
A
sincronia com a indústria, que lhe garante verbas em
esquemas de marketing obviamente lesivos ao cidadão/consumidor,
é o "ciclo histórico" que ora se encerra.
Estrago
- No Brasil, além da queda de circulação
de jornais e revistas, as dívidas das empresas jornalísticas
eram estimadas no primeiro semestre de 2004 em "R$ 10 bilhões
(a maior parte em dólar)", provocando uma crise
sem precedentes que, na prática, resultou em "17
mil vagas de trabalho cortadas em dois anos".
"Difícil
dizer se esta é a maior crise da história das
empresas jornalísticas brasileiras. Mas é uma
crise enorme, daquelas que parecem que nunca vão acabar,
a maior, com certeza, que a minha geração de
jornalistas jamais vivenciou." [20]
Dentre
as razões da "catástrofe", o ombudsman
da Folha de S.Paulo Marcelo Beraba cita a "euforia"
das empresas de comunicação com a "espiral
de crescimento" vivida nos anos 90. Motivadas pelo aumento
da circulação dos jornais e pela "estabilização
e (...) fortalecimento da moeda", as empresas "acreditaram
de fato nas previsões de crescimento econômico"
e passaram a investir em tecnologia e em "agressivas estratégias
de marketing".
Como
resultado, "se endividaram pesadamente em dólar
para continuar a se expandir". Com a desvalorização
do real em 1999, a economia entrou em estagnação
e a renda caiu. Assim, não só o número
"dos que compram em banca ou assinam jornais e revistas"
diminuiu, como também o "bolo publicitário"
passou a ser mais disputado.
"As
conseqüências da crise estão expostas: economia
de papel, demissões, achatamento salarial, perda de
profissionais qualificados, fragilização das
Redações e retração total das
empresas. Passamos a viver parecidos com o Brasil: no sufoco
para produzir resultado (superávit) e pagar dívidas.
Nada de investimento. O estrago é visível a
olho nu." [21]
Como
demonstram os dados estatísticos do Instituto Verificador
de Circulação (IVC) e da Associação
Nacional de Jornais (ANJ), depois de atravessar os anos 90 com
crescimento quase ininterrupto (com ligeiras quedas em 1994
e 1996) na circulação média diária,
possibilitado em grande parte pela "venda casada"
de exemplares, o conjunto de grandes jornais brasileiros entrou
no século XXI assistindo a uma insistente queda de circulação.
Depois
de três anos em queda acentuada, a média de circulação
em 2004 ficou em 6.522 milhões de exemplares por dia,
indicando certa estabilidade em relação ao ano
anterior, que apontou a cifra de 6.470 milhões de exemplares.
[22] Houve um ligeiro e quase imperceptível aumento,
que o ombudsman da Folha chamou em sua coluna dominical de "míseros
0,8%". Em comparação com o ano 2000, no entanto,
"a queda é de 17%", ou seja, "a curva
é decrescente, e ainda não é possível
se afirmar que as vendas pararam de cair".
Segundo
Beraba, a "situação para os três grandes
jornais", Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo e O Globo,
"é ainda pior", pois a circulação
nestes três diários cai "sem interrupção
desde 1996" e o recuo conjunto foi de cerca de 31% em relação
ao ano 2000. Em 2004, a Folha -que realizou naquele ano "o
maior corte de jornalistas de sua história recente e
promoveu o achatamento dos salários da Redação"[23]-
vendeu uma média diária de 308 mil exemplares,
2,3% menor que os 315 mil de 2003 e quase a metade do índice
de há 10 anos, os 606 mil exemplares de 1995.
O
Estadão atingiu 385 mil exemplares "no seu auge",
e terminou 2004 com 233 mil, "10 mil a menos do que no
ano anterior".
Ao
mesmo tempo, entretanto, o faturamento dos jornais com publicidade
-índice que pode ter sido até maior, segundo outras
pesquisas- cresceu 15,41% no mesmo período. A reestruturação
das dívidas em 2004, se não reduziu a dependência
em relação ao sistema bancário, ao menos
trouxe novo fôlego aos jornais.
Tanto
que a lenta e frágil estabilização, conseguida
mediante "violentos cortes de pessoal e de despesa praticados
nos últimos anos", levou alguns diários a
novamente "cuidar do produto", como demonstra a recente
reforma gráfica e temática feita pelo Estadão.
A
insistente queda de circulação, como sugere Marcelo
Beraba, "não pode ser explicada apenas pela crise
financeira" ou "pelo preço", constatando
que, com os novos serviços noticiosos da internet (o
primeiro serviço de jornalismo eletrônico do país
foi o JB Online, que surgiu em 1995), os cidadãos "já
não dependem tanto dos jornais para se informar".
Logo, as "deficiências" e a "perda de credibilidade",
resultados da "falta de investimentos em campanhas"
e em "bons profissionais", se evidenciam na competição
com outros meios informativos.
E
o diferencial de "informação analítica",
que sempre caracterizou a imprensa, na visão das grandes
empresas parece não ser definitivamente a saída
para o impasse. Neste cenário, não há como
se privilegiar o "produto".
"Mas
as reações [dos jornais] envolvem mais a forma
que o conteúdo: a dimensão marketing supera
a dimensão intelectual. Elas se baseiam em um esforço
empresarial, que reduziu fortemente os custos de produção
e de distribuição. Em suma, ainda não
propõem uma réplica definitiva à nova
concorrência das mídias eletrônicas."
[24]
Os
obstáculos não estão "apenas na economia
e na gestão", mas também na discussão
do "papel do jornal numa sociedade que vive mutações
rápidas e constantes". [25] Tais "mutações"
dizem respeito ao processo jornalístico como um todo
e, neste aspecto, evidentemente não poderiam deixar de
ter forte impacto sobre o jornalismo cultural.
Entrementes,
os desafios em reter o público leitor podem apontar soluções
e são positivos na medida em que, como afirma Castells,
"uma transformação dos conteúdos dos
meios de comunicação de massa só é
tida como possível como conseqüência de mudanças
no processo de produção". [26]
Aparentemente,
é o próprio processo de produção
que, no atual contexto, se encontra na berlinda.
Afinal,
quem tem o dever de chamar o público é a publicidade.
O caminho para o jornalismo retomar o prestígio público
e a relevância comunica-cional da qual já desfrutou
parece passar pela atração do leitor.
Mas,
antes de tudo, deve respeitar os direitos do homem à
informação independente e à crítica
como instrumento de cidadania.
Bibliografia:
CASTELLS,
Manuel. A Sociedade em Rede. A Era da Informação:
Economia, Sociedade e Cultura. São Paulo: Paz e Terra,
2000. (Volume 1).
CHARTIER,
Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações.
Lisboa: Difel, 1988.
MARCONDES
FILHO, Ciro. (Org.). Imprensa e Capitalismo. São Paulo:
Kairós, 1984.
MARTÍN-BARBERO,
Jesús. Dos Meios às Mediações: Comunicação,
Cultura e Hegemonia. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2003. (2a
Edição).
MELO,
José Marques de. Jornalismo Opinativo: Gêneros
Opinativos no Jornalismo Brasileiro. Campos do Jordão:
Editora Mantiqueira, 2003. (3a edição).
RIVERA,
Jorge B. El periodismo cultural. Buenos Aires: Paidós
Estudios de Comunicación, 1995.
TUBAU,
Iván. Teoria y Práctica Del Periodismo Cultural.
Barcelona: Editorial A.T.E., 1982.
Notas
[1]
GIRON, Luís Antônio. Textos sobre o marxismo viram
sucata nas livrarias de SP. Folha de S.Paulo, São Paulo,
07 abr. 1990. Letras. p. 01.
[2]
Cf. TUBAU, Iván. Teoria y Práctica Del Periodismo
Cultural. Barcelona: Editorial A.T.E., 1982.
[3]
GEERTZ, Clifford. The Interpretation of Cultures. Nova York:
Basic Books Inc., 1973, p. 89. Apud: CHARTIER, Roger. A História
Cultural: Entre Práticas e Representações.
Lisboa: Difel, 1988. p. 67.
[4]
Cf. TUBAU, Iván. Op. Cit.
[5]
VALE, Israel do. Jornalismo Cultural e Uniformização
do Gosto. In: Diversidade Cultural, São Paulo, 2005.
[Inédito].
[6]
VALE, Israel do. Jornalismo e Política Cultural. SEMINÁRIO
JORNALISMO CULTURAL, São Paulo, 01 dez. 2004, Bienal/ABECOM/ECA.
[Transcrição].
[7]
MARCONDES FILHO, Ciro. (Org.). Imprensa e Capitalismo. São
Paulo: Kairós, 1984. p. 22.
[8]
COLETIVO DE AUTORES "IMPRENSA". O conteúdo
dos jornais e os leitores. In: MARCONDES FILHO, Ciro. (Org.).
Op. Cit. p. 111.
[9]
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. A Era da Informação:
Economia, Sociedade e Cultura. São Paulo: Paz e Terra,
2000. (Volume 1). p. 214-216.
[10]
Idem. p. 396-397.
[11]
Idem.
[12]
BARCINSKI, André. Imprensa não vê filme
ruim. Folha de S.Paulo, São Paulo, 04 jun. 2000. Ilustrada.
p. 05.
[13]
Cf. BERABA, Marcelo. Sempre aos Sábados. Folha de S.Paulo,
São Paulo, 19 dez. 2004. [Ombudsman].
[14]
Idem.
[15]
BERABA, Marcelo. Três vezes Paulo Coelho. Folha de S.Paulo,
São Paulo, 27 mar. 2005. [Ombudsman]. p. A06.
[16]
Idem.
[17]
MEDEIROS, Jotabê. Entrevista concedida a Marcelo Januário.
São Paulo, 14 dez. 2004.
[18]
GREILSAMER, Laurent. Agonia de um ciclo histórico. Folha
de S.Paulo, São Paulo, 16 jan. 2005. Mais!. p. 03.
[19]
BERABA, Marcelo. Imprensa, crises e desafios. Folha Online,
São Paulo, 11 abr. 2004. Acesso em 16 mar. 2005. [Ombudsman].
Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ombudsma/om1104200401.htm>.
[20]
Cf. BERABA, Marcelo. Imprensa, crises e desafios. Op. Cit.
[21]
Idem.
[22]
Fonte: IVC/ANJ.
[23]
BERABA, Marcelo. Próspero 2005! Folha de S.Paulo, São
Paulo, 26 dez. 2004. p. A06. [Ombudsman].
[24]
GREILSAMER, Laurent. Agonia de um ciclo histórico. Folha
de S.Paulo, São Paulo, 16 jan. 2005. Mais!. p. 03.
[25]
Cf. BERABA, Marcelo. Próspero 2005! Op. Cit.
[26]
CASTELLS, Manuel. Op. Cit. p. 117.
*Marcelo
Januário é mestrando em jornalismo na ECA/USP e
professor da UNIP/SP. E-mail: <marcelojanuario@terra.com.br>.
Trabalho
apresentado durante o III Seminário Internacional Latino-Americano
de Pesquisa da Comunicação (ALAIC), realizado
de 12 a 14 de maio de 2005 na Escola de Comunicações
e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP).
Voltar
|

